O Quadrilátero da crise. A Guerra na Ucrânia e o governo Biden

(Arquivo) Operação antiterrorista no leste da Ucrânia, em 13 de maio de 2016 (Crédito: Ministério ucraniano da Defesa/Flickr)
Estudos e Analises n 21_Agosto 2023_O Quadrilatero da Crise
Por Sebastião Velasco e Cruz* [Estudos e Análises]
-
Introdução.
Tudo se deu sob o mais rigoroso sigilo. Na noite de sábado, depois de uma visita ao Museu Nacional de História Americana, o casal jantou em um restaurante discreto, conhecido pela excelência de sua cozinha italiana. Na manhã seguinte, a Casa Banca avisou à imprensa que o presidente permaneceria retirado e não seria mais visto naquele dia. Neste momento, porém, ele já atravessava o Atlântico a bordo do avião da Força Aérea que tomara furtivamente durante a madrugada, na companhia de três assessores, um repórter e um fotógrafo, além de alguns poucos agentes secretos, devidamente armados e compreensivelmente tensos.
Desembarcando no Aeroporto de Rzeszów–Jasionka, Polônia, às 19h57, no horário local, o presidente dos Estados Unidos deslocou-se incógnito em uma coluna de automóveis até a estação ferroviária de Przemyśl Główny, onde tomou um trem noturno para uma viagem de dez horas que o levaria a seu destino, a capital de um país em estado de guerra[1].
Poderia ser roteiro de um filme de ação, mas foi um lance real de marketing político extraordinário, longamente preparado com vistas à produção de efeitos bem definidos.
A sequência final começa na noite de 19 de fevereiro de 2023. Na manhã do dia seguinte, Biden aparece espetacularmente ao lado de Zelensky no Mariinsky Palace, em Kiev, para comemorar os feitos dos compatriotas do anfitrião, no encerramento do primeiro ano de uma guerra que muitos pensavam estar fadada a terminar em semanas. Na ocasião, o presidente americano faz um rápido discurso, no qual anuncia novo pacote de ajuda (militar e financeira), enaltece o heroísmo do povo ucraniano e reitera o compromisso inabalável dos Estados Unidos com sua luta, cujo objeto não é nenhum interesse particular, mas um bem universal: a liberdade.
You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day what the meaning of the word “courage” is […] You remind us that freedom is priceless; it’s worth fighting for, for as long as it takes. And that’s how long we’re going to be with you, Mr. President: for as long as it takes[2].
Não se tratava apenas de palavras, belas, mas inócuas. Para além dos gestos simbólicos e das sanções econômicas sem precedentes aplicadas à Rússia pelo bloco Ocidental sob sua liderança, os Estados Unidos foram pródigos na ajuda material e financeira ao país. O leitor pode formar uma ideia da importância dela a um simples correr de olhos pelo quadro abaixo.
Valor comprometido na ajuda à Ucrânia no primeiro ano da guerra (24/1/2022-24/2/2023). Em bilhões de euros:
Ajuda financeira Ajuda militar Total
Membros e instituições 35,58 19,6 61,93
EUA 29,47 51,60 83,37
Organizações multilaterais
FMI 3,19 00,00 3,19
Banco Europeu de Reconstrução 2,78 00,00 2,78
Fonte: Adaptado do Ukraine Support Tracker, Kiel Working Paper nº 2218, Kiel Institute for the World Economy, 4/4/2023.
Sozinhos, os Estados Unidos responderam por mais da metade do total da ajuda fornecida à Ucrânia, e por quase três quartos da ajuda militar, no primeiro ano do conflito. Mesmo se desconsiderado o seu papel político como dirigente da coalizão Ocidental, não é exagero dizer que, sem o apoio dos Estados Unidos, a guerra, tal como a presenciamos, não teria existido.
Tal como a presenciamos. Cabe salientar a condição, porque a guerra poderia muito bem ter tomado outro rumo – na ausência do apoio americano, certamente, mas também caso este tivesse atendido plenamente às demandas do governo Zelensky.
Com efeito, no torvelinho dos acontecimentos, a memória do fato pode ter se apagado, mas já no início de março, 2022, Zelensky cobrava da “liga da liberdade” o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano e o fornecimento de caças F-16 com instrutores para treinar os seus pilotos, pois a aviação ucraniana fora destroçada pelos mísseis russos. Dada o estado crítico da situação, solicitava ainda que fossem enviados de imediato à Ucrânia MIGS e Zukoys, pela Polônia e por outros países do antigo Pacto de Varsóvia[3].
Está nos jornais. No momento em que escrevo, esses aviões – há muito obsoletos, mas de manejo familiar aos pilotos ucranianos – estão sendo fornecidos pela Polônia, aparentemente por decisão própria, não questionada pelos Estados Unidos. Mas isso mais de um ano depois do pedido desesperado de Zelensky. Na ocasião, o governo Biden rejeitou a proposta da zona de exclusão aérea e vetou a cessão dos velhos caças soviéticos à Ucrânia.
A cautela é compreensível. No caso da zona de exclusão aérea, a tentativa de impô-la acarretaria, inevitavelmente, um confronto direto da OTAN com a Rússia, numa escalada que poderia terminar em conflito nuclear. A justificativa para a interdição imposta ao fornecimento de aviões de combate é menos evidente, mas se enquadra na mesma regra prática que tem evitado, até hoje, a entrega de mísseis de longo alcance (como os ATACMS, de alcance superior a 300 quilômetros) pelo risco de seu emprego contra alvos situados em território russo.
Biden enunciou muito claramente esta regra em artigo importante publicado no The New York Times em maio do ano passado.
We do not seek a war between NATO and Russia. […]. So long as the United States or our allies are not attacked, we will not be directly engaged in this conflict, either by sending American troops to fight in Ukraine or by attacking Russian forces. We are not encouraging or enabling Ukraine to strike beyond its borders. We do not want to prolong the war just to inflict pain on Russia[4].
Bastante sensata, esta linha de conduta parece não se coadunar com sinais dados por autoridades americanas em favor do objetivo maximalista verbalizado insistentemente pela liderança ucraniana, de derrotar a Rússia e recuperar o domínio sobre a integralidade do território ucraniano, aí incluída a Crimeia.
Nem sempre foi assim. Transcorrido um mês de iniciados os combates, no contexto das negociações de paz mediadas pela Turquia, Zelensky se declarou disposto a discutir a neutralidade da Ucrânia em um futuro acordo de paz e a estabelecer um compromisso sobre o status a região de Donbass, descartando a ideia de retomar pela força todos os territórios ocupados pela Rússia, pois isso significaria desencadear “uma terceira guerra mundial”[5].
Não caberia especular aqui sobre as razões de tão grande mudança, mas não passaram despercebidas para a ninguém as declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no mês seguinte, depois de rápida visita a Zelensky, em Kiev, na companhia de seu colega, o secretário de Estado, Antony Blinken:
We want to see Russia weakened to the degree that it can’t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine.
So it has already lost a lot of military capability. And a lot of its troops, quite frankly. And we want to see them not have the capability to very quickly reproduce that capability.
Era uma ampliação aparente dos objetivos do governo Biden na guerra, que parecia reforçada pelo complemento feito por seu colega de gabinete:
We don’t know how the rest of this war will unfold, but we do know that a sovereign independent Ukraine will be around a lot longer than Vladimir Putin is on the scene[6].
Retomadas no dia seguinte por ele próprio e pelo então porta-voz do Pentágono, John Kirby, na conferência de imprensa realizada durante o encerramento do encontro do Ukraine Defense Consultive Group, na base aérea de Ramstein, Alemanha, as declarações de Austin repercutiram fortemente por sugerirem um reposicionamento significativo do governo Biden diante da guerra[7].
O artigo publicado por Biden, a convite, no New York Times pode ser entendido como uma tentativa de pôr ordem na casa, reafirmando a orientação original de seu governo. Mas, nesta hipótese, é duvidoso que tenha sido de todo bem-sucedido. Pois continua gritante a disparidade entre a definição sobre a natureza fundamental do conflito e a moderação relativa na provisão de meios para enfrentá-lo. Nesse contexto, a possibilidade de uma paz negociada, como pretende a diplomacia brasileira, está fora de vista. O que se desenha no horizonte é uma guerra prolongada e desgastante, que pode assumir formas diversas, mas onde o eventual cessar-fogo não será nada mais que um passageiro armistício[8].
Algumas vozes na comunidade de segurança americana passaram a trabalhar com cenários desse tipo, sugerindo políticas para que o bloco Ocidental neles se posicione da forma mais vantajosa[9]. Outras vêm alertando para os riscos de escalada implicados em uma tal situação, envolvendo potências nucleares com recursos e interesses tão desiguais no conflito. A mais enfática entre elas talvez seja a de John Mearsheimer, provavelmente o mais destacado representante, hoje, da escola realista de Relações Internacionais. As vias que podem conduzir à catástrofe são muitas e variegadas (um pequeno acidente, como o choque entre dois aviões caça, desencadeando uma espiral ascendente; um ataque russo a campos de treinamento que acarrete a morte de grande número de instrutores americanos; a decisão russa de bombardear o território de um país-membro da OTAN para interromper o fluxo de material bélico fornecido à Ucrânia, por exemplo), mas é a lógica da situação descrita por Mearsheimer que fundamentalmente interessa ao presente estudo. Em suas palavras,
Since the war began, both Moscow and Washington have raised their ambitions significantly, and both are now deeply committed to winning the war and achieving formidable political aims. […] this means that the United States might join the fighting either if it is desperate to win or to prevent Ukraine from losing, while Russia might use nuclear weapons if it is desperate to win or faces imminent defeat, which would be likely if U.S. forces were drawn into the fighting.
… The maximalist thinking that now prevails in both Washington and Moscow gives each side even more reason to win on the battlefield so that it can dictate the terms of the eventual peace. In effect, the absence of a possible diplomatic solution provides an added incentive for both sides to climb up the escalation ladder. What lies further up the rungs could be something truly catastrophic: a level of death and destruction exceeding that of World War II[10].
Vias que podem levar, não que levarão à catástrofe. É importante salientar a diferença, porque o argumento de Mearsheimer é condicional. A lógica que ele expõe tem como premissa a redefinição maximalista dos objetivos da guerra pelos dois contendores. Mas nada garante que estes permanecerão inalterados ao longo do tempo. Da mesma forma que a situação cambiante no terreno levou à expansão dos referidos objetivos, uma série de ocorrências facilmente imagináveis – uma escalada de tensões no estreito de Taiwan, ou o crescimento da oposição à sua política na guerra, em tempos de eleição presidencial, por exemplo – pode induzir o governo Biden a um reposicionamento.
Não discutirei a probabilidade, maior ou menor, de tal mudança, nem do desfecho sombrio que se desenha no horizonte na hipótese de continuidade na postura ora adotada pelos protagonistas. Em vez disto, proponho-me, neste artigo, a refletir sobre duas questões entrelaçadas: a ambivalência da conduta americana diante do conflito; e o papel atribuído ao embate com a Rússia em torno da Ucrânia no conjunto da estratégia global dos Estados Unidos.
Antes de entrar na análise, porém, devo dizer uma palavra rápida sobre alguns aspectos subentendidos na discussão que se fará a seguir.
O primeiro diz respeito à relação da guerra com interesses particulares de empresas e setores econômicos. Os ganhos decorrentes da guerra para alguns deles são óbvios. Considere-se, a título de exemplo, a indústria bélica. Os Estados Unidos são os maiores produtores de armas no mundo. Ao transferir para a Ucrânia bilhões de dólares em armamentos antigos acumulados em seus estoques, o governo americano recheia a carteira das empresas do setor com encomendas novas. Os Estados Unidos são grandes produtores também de petróleo e de gás liquefeito. Desde a revolução do fracking, no começo do século presente, tornaram-se autossuficientes e passaram a gerar saldos exportáveis de gás vultosos. O problema que dificultava a obtenção de uma fatia maior do mercado era o preço da mercadoria e a infraestrutura requerida para sua importação. As sanções aplicadas à Rússia implicaram a ruptura das linhas de fornecimento de petróleo e gás russo à Europa, encarecendo imediatamente os dois produtos e abrindo um mercado imenso que as firmas americanas passaram a ocupar gostosamente.
Nada disso está em questão, mas explicar a eclosão do conflito e a conduta do governo americano em seu decurso pelo peso dos interesses econômicos favorecidos com ele seria tomar o efeito pela causa. Entre a constatação de que grupos identificáveis ganham com uma dada política e a proposição de que esta foi adotada com o fim de beneficiá-los a distância é muito grande. O analista que estabelece uma conexão direta entre elas dá um salto mortal no escuro e, como soe acontecer nesses casos, desaba.
Mais complexos e mais convincentes são os argumentos que apontam para os efeitos geoeconômicos e geopolíticos do conflito. O mais evidente e mais comentado entre eles é a subordinação acrescida da Europa à direção político-ideológica dos Estados Unidos.
O alinhamento estreito acima referido é ilustrado eloquentemente pelo silêncio da Alemanha face ao ataque terrorista aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 construídos, contra a oposição tenaz dos Estados Unidos, com capital russo e germânico, para atender a demanda de gás da indústria e das famílias alemãs. Apesar da condição de vítima de agressão criminosa, traduzida em desastre ecológico e prejuízos bilionários, a Alemanha não manifestou interesse nenhum na proposta apresentada pela China e pela Rússia de criação de uma comissão independente para investigar as circunstâncias e a autoria do ato, que recebeu o voto favorável do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Como a lógica e as informações disponíveis apontam para suspeitos “inconvenientes”, o caso continuará sob investigação sigilosa – por agências alemãs e de países “amigos”, ainda que confessadamente satisfeitos com os resultados do atentado.
Esses e outros fatos reforçam o argumento daqueles, como Michel Hudson, que entendem ser a Europa (em particular a Alemanha) o principal alvo da guerra na Ucrânia.
The country suffering the most “collateral damage” in this global fracture – escreve este autor – is Germany. As Europe’s most advanced industrial economy, German steel, chemicals, machinery, automotives and other consumer goods are the most highly dependent on imports of Russian gas, oil and metals from aluminum to titanium and palladium. Yet despite two Nord Stream pipelines built to provide Germany with low-priced energy, Germany has been told to cut itself off from Russian gas and de-industrialize. This means the end of its economic preeminence. The key to GDP growth in Germany, as in other countries, is energy consumption per worker.
These anti-Russian sanctions make today’s New Cold War inherently anti-German[11].
As aspas no início do parágrafo são marcas de ironia porque, no entender de Hudson, o prejuízo incorrido pela indústria alemã não tem nada de colateral, corresponde antes ao objetivo maior perseguido pelos Estados Unidos na crise. Com efeito, reza o argumento, manter a Europa em sua esfera de influência é fundamental para a superpotência. E a Europa ameaça desgarrar-se ao intensificar seus laços econômicos com a China e a Rússia.
At issue is how long the United States can block its allies from taking advantage of China’s economic growth. Will Germany, France and other NATO countries seek prosperity for themselves instead of letting the U.S. dollar standard and trade preferences siphon off their economic surplus?[12]
De novo, podemos admitir que – intencionais ou não – os efeitos das sanções apontados pelo autor sejam reais e empiricamente comprováveis. E podemos ainda acompanhá-lo em sua análise sobre o objetivo estratégico dos Estados Unidos de manter a Europa na posição de caudatária. Mas nada disso nos permite entender por que ambas as coisas teriam sido buscadas exatamente por este meio: uma guerra que mal completa seu primeiro aniversário e já é a mais destrutiva jamais travada em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial.
O caminho tomado neste artigo é outro. Ele parte do suposto de que a chave para entender a conduta do governo Biden na guerra deve ser buscada nas relações historicamente construídas entre Estados Unidos e Rússia desde o final da Guerra Fria.
Ao fazer esta afirmação, não desconsidero as dimensões nacional e regional do conflito. Contudo, a intervenção militar russa na Ucrânia surge como desdobramento de uma crise política congenitamente internacionalizada. Ou melhor, um ciclo de crises que teria outro desfecho, caso se articulasse de maneira diversa com os interesses e as políticas das grandes potências – em particular as duas antes referidas.
A guerra na Ucrânia envolve um conjunto de determinações complexamente entrelaçadas. Mas o que move a política do governo Biden no conflito é o antagonismo Estados Unidos-Rússia.
-
A Quadratura do Círculo. A Política dos Estados Unidos para a Rússia no Pós-Guerra Fria.
2.1. Uma discrepância sintomática.
A raiz do problema insinua-se já na assincronia implícita nos dois termos articulados na enunciação do objeto.
Com efeito, a política dos Estados Unidos para a Rússia começa com a implosão da URSS, vale dizer, com a tentativa frustrada do golpe de Estado levada a efeito pela linha dura do regime, em 19 de agosto de 1991, que foi seguida de perto pela declaração de independência da Estônia, da Letônia, da Rússia, da Ucrânia, da Geórgia e, meses depois, pelo desaparecimento formal da União Soviética. Antes disso, o polo da relação com os Estados Unidos não era a Rússia, mas o Estado multinacional engendrado pelo Partido Comunista na esteira da Revolução bolchevique de 1917.
Mas, quando os tormentosos acontecimentos acima aludidos ocorreram, a Guerra Fria já era pretérito. Há quanto tempo? A pergunta não admite resposta fácil. Em certo sentido, a Guerra Fria começa a se desfazer já em 1986, quando Gorbachev dá início à sua dupla política da Perestroika e da Glasnost e expõe ao mundo um novo paradigma de política exterior inspirado na concepção de Segurança Comum exposta alguns anos antes pelo então premiê sueco, Olof Palme[13]. A partir daí, ele passa a interpelar os seus pares e a opinião pública internacional com um discurso, cujos referentes não são mais o socialismo e a luta de classes, mas os valores comuns da humanidade. Palavras, dirão. Mas as palavras são atos, e ganham força maior quando se conjugam com outros atos para compor uma série dotada de sentido determinado. Foi o que se deu com a política exterior soviética nessa quadra histórica.
A mudança operada por Gorbachev expressou-se de imediato em seu comportamento maleável nas negociações com Reagan sobre redução de armas nucleares, nas quais desistiu de vincular a discussão do tema proposto pelo presidente americano à de seu projeto de escudo antimíssil (a chamada “Guerra nas Estrelas”) que era visto com extrema preocupação pelos estrategistas soviéticos. Foi reforçada depois, com a assinatura, em abril de 1988, do acordo que levou à retirada completa das tropas russas do Afeganistão. E tornou-se patente, no ano seguinte, na autocontenção do governo soviético diante dos movimentos pela democratização das Repúblicas Populares. O de maior impacto – e teste mais importante para sua política – foi a rebelião na RDA, simbolicamente marcada pela derrubada do muro de Berlim, sobre a qual voltarei mais adiante. Logo depois foi a vez da Checoslováquia e da Bulgária.
Se o fim da Guerra Fria ainda era incerto, a partir desse momento qualquer dúvida a respeito estava dissipada. O reconhecimento formal do fato veio em novembro do ano seguinte, no tratado entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia sobre forças convencionais na Europa, celebrado como o fim da era de divisão e confrontação pelos signatários. Quatro meses depois, um deles – o Pacto de Varsóvia – deixou de existir… Mas o outro persistia e se revigorava.
A contradição entre o fim proclamado da era de antagonismo e a manutenção da OTAN – aliança militar criada para defesa mútua contra a ameaça soviética – é um dos principais determinantes do relacionamento Estados Unidos-Rússia e um elemento constitutivo da ordem internacional emergente no Pós-Guerra Fria.
Mas talvez a contradição seja apenas aparente. É o que trataremos de verificar a partir de agora.
- Ruptura de um padrão cíclico: o lugar da Rússia na Nova Ordem Internacional
For nearly thirty years, […] the U.S.-Russian relationship has experienced a familiar pattern of boom-bust cycles: a new administration comes in dissatisfied with the state of the relationship and promises to do better. It launches a policy review that generates a reset aimed at developing a partnership. A period of optimism follows, but obstacles to better relations emerge, and optimism gradually gives way to pessimism. By the end of the administration, the relationship is at the lowest point since the end of the Cold War[14].
A passagem citada acima sintetiza com propriedade a trajetória tortuosa do relacionamento entre os Estados e a Rússia no Pós-Guerra Fria. Com uma ressalva: até o final do governo Obama. Com Trump, já temos uma outra história. Falo mais especificamente de três presidentes (Clinton, W. Bush e Obama), cada um deles no exercício de dois mandatos – o de George H. W. Bush expirava quando do desaparecimento da URSS.
No início de seu governo, Clinton agraciou Yeltsin com a promessa de fundar com a Rússia uma parceria democrática, assumindo o compromisso de assisti-la em seu esforço pela construção de uma economia de mercado. A harmonia entre os dois parceiros, porém, não durou muito. O tratamento de choque aplicado pelos tecnocratas russos, seguindo o receituário de seus assessores ocidentais, precipitou a Rússia em uma crise econômica dantesca (queda de cerca de 50% no PIB em cinco anos), disseminando o desemprego e a miséria, com as implicações previsíveis na credibilidade dos arautos das reformas. Em outro plano, a reação truculenta de Yeltsin à crise constitucional de setembro de 1993 (fechamento do Congresso e promulgação de nova Carta, com poderes ampliados ao Executivo) chocou a opinião pública internacional e lançou dúvidas sobre as suas credenciais democráticas. Mas os fatores decisivos na degradação do relacionamento entre os dois foram de ordem internacional: a decisão do governo Clinton de expandir a OTAN – contra a oposição declarada da Rússia – e a crise nos Bálcãs, que culminaria, em 1999, no bombardeio (não autorizado pela ONU) de Belgrado e num embate político com o governo russo que, e Bush dado momento, chegou perto de um confronto físico com seus soldados[15].
Originalmente, a política exterior de Bush não reservava papel maior à Rússia, mas depois dos atentados do 11 de Setembro tudo mudou. Declarada a “Guerra ao Terror”, cujo episódio inaugural foi o ataque ao Afeganistão, e contando com a solidariedade ativa do governo Putin, durante algum tempo Estados Unidos e Rússia estiveram bem próximos. Mais uma vez, contudo, os laços de amizade foram rapidamente esgarçados. A decisão do governo Bush de sair do tratado antimíssil balístico, em 13 de dezembro de 2001, contribuiu para esse resultado, mas os eventos de maior impacto foram a oposição russa à invasão do Iraque, em 2003, e as Revoluções Coloridas, que resultaram na formação de governos apoiados pelos Estados Unidos na Geórgia e na Ucrânia, em 2004.
O final do período é marcado por uma ocorrência inesperada e de grande alcance histórico: a intervenção militar russa na Geórgia em resposta à operação militar deflagrada pelo governo Saakashvili contra a província separatista da Ossétia do Sul. A ação russa marca um ponto de inflexão no Pós-Guerra Fria, pois representou o primeiro desafio frontal à política dos Estados Unidos efetuada por uma grande potência (até então imaginava-se que a contestação à ordem internacional criada sob sua égide estaria restrita a atores não estatais: movimentos insurgentes; organizações terroristas). Não surpreende, assim, que reações nos Estados Unidos tenham sido intensas e indignadas.
Eleito em meio à crise desencadeada pela falência de um banco nos Estados Unidos, logo transformada em crise financeira global, Obama se compromete a sair do Iraque e busca se reaproximar da Rússia, a fim de concentrar esforços na frente que considerava mais desafiadora, vale dizer, a Ásia. A princípio, esse deslocamento diplomático deu bons frutos, entre os quais a renovação do START (Tratado de Redução de Armas Estratégicas, na sigla em inglês) assinado por Obama e Putin em 8 de abril de 2010 e ratificado pelo Senado americano em 22 de dezembro de 2010, com o voto da bancada democrata em bloco e de numerosos senadores republicanos. Parecia um bom começo, mas, logo a seguir, as desavenças tomariam o lugar dos protestos de boa vontade. Como no passado, a mudança de tom se deu na confluência entre política doméstica e internacional. O irritante mais direto foi o comportamento do governo russo nas eleições legislativas de dezembro de 2011. Criticado abertamente pela então secretária de Estado, Hillary Clinton, por medidas restritivas à atividade da oposição liberal, Putin denuncia a interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da Rússia e acusa diretamente Hillary Clinton de incitar protestos contra os resultados do pleito[16].
Antes – e explicitamente vinculado ao incidente em torno da eleição na Rússia –, o outro irritante decorreu de acontecimentos sobrevindos longe do território russo. Refiro-me à Primavera Árabe – movimento de revolta contra os regimes vigentes na região, que começou na Tunísia, levou à derrubada (momentânea, logo se viu) do mando militar no Egito, deflagrou uma guerra civil até hoje não de todo debelada na Síria e incluiu uma operação desastrada, conduzida pela OTAN, de mudança de regime na Líbia. Os dois últimos episódios afetaram significativamente as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. O primeiro, porque a tentativa de deposição de Assad, encampada oficialmente pelo governo americano, afetava diretamente os interesses da Rússia, aliada da Síria, onde mantinha uma das poucas bases navais fora de seu território. O segundo, por extrapolar manifestamente o mandato conferido pela Resolução 1973, do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em 17 de março de 2011 com a abstenção (e, portanto, com a anuência) da Rússia, que tinha a prerrogativa de vetá-la.
Contudo, o episódio que atingiu mais fortemente a relação e, na realidade, selou o fim do padrão aqui discutido foi a crise política que eclodiu na Ucrânia no inverno de 2013. Desta feita, o motivo imediato não foram eleições (real ou alegadamente) viciadas, nem medidas repressivas contra a oposição política, mas as escolhas do referido país no campo de suas relações externas. Em meio a negociações difíceis com a União Europeia a respeito de um financiamento crivado de condicionalidades, o presidente de turno – Viktor Yanukovych, o mesmo que teve sua eleição contestada em 2004 – demonstrou-se propenso a aceitar a oferta de um crédito de valor maior e mais rápido feita pelo governo russo. As manifestações concentradas na Praça Maidan, em Kiev, buscavam impedir a conclusão deste acordo. O que estava em jogo, portanto, era a disjuntiva: integração, no longo prazo, da Ucrânia com o Ocidente (União Europeia, OTAN, Estados Unidos), ou com a Rússia – tema que polarizou o país desde sua criação como Estado independente, em 1991.
Não cabe discorrer aqui sobre as particularidades desta crise, nem da participação nela das forças externas interessadas em seu resultado[17]. Basta dizer que, deposto o presidente Yanukovych, ela terminou com a declaração de independência da Crimeia (pouco depois incorporada à Rússia) e a revolta separatista no Donbass. Começava, então, uma guerra civil que se estendeu até a intervenção militar russa em fevereiro do ano passado.
A crise de 2013-2014 na Ucrânia representa um ponto de inflexão no relacionamento Estados Unidos-Rússia, porque, a partir daí, não haverá mais ensaios de restauração de laços cordiais. Durante a campanha presidencial de 2016, muitos acreditaram que a vitória de Trump prometia uma política de aproximação com a Rússia, mas o juízo prospectivo transcrito a seguir desmentia, então, a opinião dos observadores desavisados.
As expectativas russas sobre a presidência de Trump – dizia o analista – variam de otimismo excessivo a medo excessivo…. O otimismo excessivo é sem fundamento, porque Trump simplesmente não será autorizado a implementar suas iniciativas de política externa – a menos que renuncie a elas antes da eleição ou pouco depois, se for eleito. As tentativas de implementá-las serão enfrentadas com obstruções por parte do congresso, da burocracia governamental e do establishment em geral. Trump, ou qualquer outra pessoa em seu lugar, será forçado a fazer um trade-off. O fato de Mike Pence, companheiro de Trump, aderir à linha dura com a Rússia, que é amplamente aceita no Partido Republicano, não deve ser uma surpresa[18].
Como sabemos, ele estava coberto de razão. Já em fevereiro de 2017 assistimos à exoneração do então conselheiro de Segurança Nacional, general Michael Flynn, na sequência do escândalo produzido pelo vazamento de escutas telefônicas, que o surpreendiam em conversa com o embaixador russo. Acusado de manter relações escusas com o governo Putin, Trump acabou tomando medidas mais duras contra a Rússia – como a autorização para o envio de armas letais à Ucrânia – do que seu antecessor.
- O lugar da Rússia na nova Ordem Internacional
O reparo feito anteriormente à parte descritiva do artigo de Rumer e Skolsky não diminui minimamente o valor de sua análise, que acerta em cheio quando expõe a razão fundamental de a crise larvar no relacionamento Rússia-Estados Unidos nestes termos.
One striking feature of the past thirty years is the similarity of U.S. approaches to Russia across different administrations and party lines. […] all three administrations saw Russia as an incomplete and at times failing state […] From the U.S. perspective, Russia needed to be successful (on American terms) not only for Russia itself to become a complete state but also for U.S.-Russian relations to thrive. In this view, maintaining America’s global leadership and fulfilling its self-proclaimed “exceptionalism” made it imperative to promote Russia’s transition to democracy and liberal capitalism and bring Russia into the U.S.-led liberal international order, regardless of the Kremlin’s preferences and conception of Russian interests and priorities[19].
O relacionamento em questão foi afetado por uma série de circunstâncias, várias das quais decorrentes de ações praticadas pela Rússia. Mas a raiz do problema reside na pretensão americana de tomar a potência derrotada na Guerra Fria como campo de exercício de engenharia social, buscando redesenhar sua organização econômica e política, segundo um modelo calcado na realidade dos Estados Unidos.
Subscrevo sem reservas o argumento, mas podemos expandi-lo, se nos detivermos num aspecto referido pelos autores apenas de passagem, ao completar a frase citada com este complemento: “and bring Russia into de U.S. led international order”.
Com efeito, ele nos sugere que estamos diante de algo muito mais geral do que o simples desencontro insuperável entre Estados Unidos e Rússia. Pois o modelo em questão não se destina apenas à Rússia: ele é concebido como fundamento normativo da ordem internacional emergente no Pós-Guerra Fria.
Considerei longamente em outro lugar as aporias implicadas na tendência histórica de transformar a democracia – na verdade, uma modalidade particular e empobrecida da mesma – em atributo universalmente requerido para a inclusão dos países como membros plenos da “comunidade internacional”[20]. Ela envolveu a ação e o pensamento, nem sempre convergente, de vasto conjunto de atores – Estados, organizações internacionais, movimentos sociais e indivíduos. Mas o papel de cada um deles na conformação desta tendência é, naturalmente, muito desigual. No momento, quero chamar a atenção para a importância vital que ela assume, muito cedo, no planejamento estratégico dos Estados Unidos.
Reiterado incansavelmente nos documentos de política de sucessivos governos, o compromisso com a difusão global do par economia de mercado-democracia foi proposto de forma paradigmática, em 1993, pelo então conselheiro de Segurança Nacional, Anthony Lake, no texto que estabeleceu as bases doutrinárias da política exterior do governo Clinton.
Vencidos 50 anos de esforço continuado para conter a União Soviética, ainda sob o impacto de seu colapso de todo imprevisto, o consenso público em torno do papel internacional dos Estados Unidos fora quebrado. Para muitos – à direita e à esquerda –, ausente qualquer grave ameaça à sua segurança, o momento era chegado para os Estados Unidos reduzirem sua presença no mundo a fim de melhor cuidar de seus próprios problemas.
Anthony Lake rejeita de plano a ideia, negando que as duas esferas aludidas possam ser separadas: a divisória entre política externa e política doméstica se esvaiu; o que o governo americano faz fora de suas fronteiras tem consequências duradouras para os cidadãos dos Estados Unidos.
Estabelecida esta premissa, Lake faz uma caracterização sumária – e fortemente otimista – do mundo que aflora ao final da Guerra Fria. No seu entender, a nova era se distinguiria por quatro fatos: a adesão generalizada, em escala mundial, aos conceitos de economia de mercado e de democracia; a eclosão de conflitos étnicos e movimentos separatistas; a intensificação e a aceleração do intercâmbio de bens, serviços e ideias em escala planetária, impulsionado pelas inovações revolucionárias no campo das tecnologias de informação e de comunicação.
Até aqui, a enumeração nos contempla com uma relação complementar e um problema.
Relação complementar: “democracy alone can produce justice, but not the material goods necessary for individuals to thrive; markets alone can expand wealth, but not that sense of justice without which civilized societies perish”.
Problema: os movimentos étnicos e religiosos, que provocam conflitos dentro e entre nações, comprometendo a democracia, único regime capaz de acomodá-los.
Alterei propositadamente a ordem de exposição de Lake para salientar a outra característica da nova ordem, que garante a combinação benigna dos dois primeiros elementos e abre caminho para a solução das dificuldades criadas pelo último.
The second feature of this era is that we are its dominant power. Those who say otherwise sell America short. The fact is, we have the world’s strongest military, its largest economy, and its most dynamic, multiethnic society. We are setting a global example in our efforts to reinvent our democratic and market institutions. Our leadership is sought and respected in every corner of the world.
E, assim, fica solucionado o problema sobre o novo curso a seguir, agora que não há mais um rival a derrotar.
Throughout the Cold War, we contained a global threat to market democracies; now we should seek to enlarge their reach, particularly in places of special significance to us.
The successor to a doctrine of containment must be a strategy of enlargement – enlargement of the world’s free community of market democracies[21].
Sabemos o que implicou a estratégia de exportação da democracia: ajuda financeira a grupos e organizações em países-alvo, dotados de regimes políticos inadequados (cerca de US$ 5 bilhões, no caso da Ucrânia, entre 1991 e 2014)[22], treinamento e formação de pessoal, apoio político, diplomático e publicitário a forças “democráticas”. Em casos extremos, intervenções militares em nome da defesa dos direitos humanos. A passagem abaixo, extraída de um artigo assinado por Michael McFaul, que desempenharia a seguir papel de destaque na política externa americana como embaixador dos Estados Unidos em Moscou, proporciona uma imagem vívida da forma que essa política assumiu na crise ucraniana de 2004.
Well before the formation of the Our Ukraine bloc in 2002, IRI [Instituto Republicano Internacional] and ND [Instituto Democrático Nacional] worked closely with many of the individuals who later assumed senior positions in the Our Ukraine organization and campaign. After the creation of the party, IRI and NDI provided additional training assistance, though using different strategies. IRI conducted multiparty training programs focused almost exclusively on regional party leaders outside Kiev, while NDI provided trainers to programs organized by Our Ukraine, a service it provided to other parties as well[23].
Freedom House organized and funded a summer camp for Ukrainian youth activists and invited trainers from the Serbian youth movement, Otpor, to attend. Pavol Demeš, a leader of the OK 98 movement in Slovakia, traveled to Ukraine several times in the months leading up to the Orange Revolution to train and provide support for Yellow Pora. Znayu also used trainers from Serbia and Georgia…. nearly all these civic mobilization training programs received at least partial funding from Western sources, including the IRF, Freedom House, the U.S-Ukrainian Foundation, GMF, NDI, the Westminster Foundation, and the Swedish International Development Cooperation Agency, as well as grants from Western embassies in Kiev[24].
Não é preciso ir mais longe para perceber que a “ordem internacional liberal” desenhada pelos Estados Unidos continha em seu âmago um elemento radicalmente novo, de implicações “revolucionárias”: o conceito de uma estrutura hierárquica, centrada em um poder incontrastável que aliaria a preponderância econômico-militar à superioridade moral. Lake tinha razão ao falar em dissolução das fronteiras entre política doméstica e exterior: em uma ordem assim, toda política é “interior”, porque nada lhe é estranho. A globalização econômica ativamente promovida por esse poder, por meio de ações diretas e da atividade rotineira das organizações internacionais a ele vinculadas, solicitava como contrapartida um poder político igualmente global, capaz de garantir a efetividade das regras emanadas de suas instituições através do exercício legítimo da força, em escala global, se necessário. Para um país forjado na guerra de independência contra o Império britânico, a conclusão é incômoda, mas ainda assim incontornável: a ordem postulada pela grande estratégia dos Estados Unidos no Pós-Guerra Fria é, em sua essência, imperial.
No mundo que emergia das cinzas da Guerra Fria, este conceito de ordem coexistia em unidade tensa com outros, cunhados em outras épocas históricas, em circunstâncias muito diferentes. Penso no Direito Público Internacional, fundado no conceito de igualdade soberana dos Estados, com seu corolário, a não intervenção e a não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. Em momento algum imaginou-se aboli-lo. Pelo contrário, foi em nome dele que se fez a Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque, e é, de novo, com invocação a ele que se trava agora a guerra multidimensional contra a Rússia, por ter violado, ao invadir a Ucrânia, o princípio sagrado da soberania territorial dos Estados. Este princípio, contudo, foi ignorado em 1999 (no bombardeio de Belgrado) e em 2003 (na invasão do Iraque), porque se chocava com as exigências de um direito maior, em status nascendi (o direito humanitário e a guerra ao terror), de caráter supranacional.
A coerência não é um dos predicados da política internacional, e a convivência de regimes jurídicos supranacionais com as estruturas do Direito Estatal tem sido objeto de estudos profundos, que a tomam como uma das características distintivas do Direito contemporâneo. A tensão entre esses dois elementos não resulta necessariamente em conflito insuperável, e a inteligência dos teóricos e operadores do Direito se esmera há tempos na tarefa de reconciliá-los.
Muito mais grave para a estabilidade da ordem internacional emergente era a contradição entre seu pressuposto ideal (o monopólio normativo e coercitivo do condomínio ocidental, sob o comando dos Estados Unidos) e sua premissa histórica: a vitória capenga que pôs fim à Guerra Fria.
Com efeito, derrotada nessa guerra peculiar, a União Soviética não foi jamais militarmente vencida. Ao contrário do que ocorreu com os derrotados no final da Segunda Guerra Mundial, seu território não foi ocupado, e sua sucessora – a Rússia – preservou seu aparato militar, com o arsenal nuclear respectivo.
Ironicamente, tal resultado deve muito à ação dos Estados Unidos. Em seus derradeiros momentos, a União Soviética contava com um arsenal dotado de cerca de 30-40.000 armas nucleares, estratégicas e táticas, estacionadas em 14 das 15 Repúblicas. Para o vencedor aturdido, o colapso da URSS gerava o tríplice problema de garantir a integridade e consolidar o arsenal de armas táticas; evitar a emergência de novos Estados nucleares, abastecidos de mísseis balísticos intercontinentais, e impedir o vazamento de material físsil para Estados falidos, organizações criminosas, ou grupos terroristas.
Graham Allison e colegas estudaram minuciosamente como os Estados Unidos lidaram com esses três desafios, mas não é preciso segui-los. Para os propósitos deste artigo, o essencial está contido na informação que aparece no início de seu livro.
The Bush administration and the Congress wasted no time in deciding that the United States could accept only one nuclear successor state to the Soviet Union – Russia; this was a view shared by most other states on the planet… In practice, however, the process of denuding Belarus, Kazakhstan, and Ukraine of the strategic nuclear weapons they had inherited proved to be no simple matter, particularly in the case of Ukraine[25].
O que foi, precisava ter sido? Há quem o negue, recusando até hoje a necessidade da política adotada, que seria reflexo da “opção preferencial pela Rússia”. Mas isto em nada afeta a conclusão do nosso argumento: a ordem internacional liberal sonhada por Lake e afins portava um defeito congênito: a persistência de um Estado dotado de arsenal nuclear capaz de devastar o garante dessa ordem, ainda que se condenasse nessa hipótese ao mesmo destino.
No decurso do tempo, o desafio de como lidar com esta realidade indigesta demonstrou-se tão difícil quanto o problema da quadratura do círculo.
-
Escolhas Fatídicas
3.1. Supremacia Nuclear.
Quadratura do círculo? A expressão demanda um rápido esclarecimento. Com efeito, a forma como a Guerra Fria terminou – desmobilização voluntária de um dos contendores, jamais vencido em campo de batalha – é um dado da realidade objetiva e, como tal, não constitui problema. Ele surge sob esta figura apenas em sua relação com um conceito de ordem internacional que não o comporta, ou só o acomoda com dificuldade.
Mas quando este conceito vem à luz? O discurso de Anthony Lake que comentamos é de agosto de 1993 – cerca de quatro anos depois dos acontecimentos que selaram o fim da Guerra Fria. Ora, o tempo da política não se mede pelo relógio. Quatro anos em período rotineiro pode ser pouco, mas em época de mudança revolucionária é uma eternidade. No final de 1989, o conflito Leste-Oeste era passado, mas as linhas mestras do futuro ainda não tinham sido traçadas. A ordem emergente então – nunca de todo realizada – foi resultado de escolhas feitas em resposta a problemas discretos, com consciência difusa de suas implicações e significado. Como sói acontecer com frequência, o fato precede a doutrina que o apresenta como necessário. Para entender o contexto no qual a Rússia – alquebrada, deprimida, mas ainda pesadamente armada – afigura-se como problema insolúvel, devemos considerar brevemente duas escolhas do vencedor que contribuíram fortemente para moldar a nova ordem.
Supremacia nuclear
Por mais que estivesse economicamente prostrado, a existência de um Estado com o potencial nuclear da Rússia constituía um problema intragável para a nova ordem, porque negava um de seus pressupostos: o emprego da força – ou a ameaça crível de seu emprego – para fazer valer os seus preceitos e normas.
Certo? Em termos.
A resposta será afirmativa, se a questão for contemplada na perspectiva da dissuasão nuclear. As condições históricas para esta doutrina são conhecidas: não apenas a quebra do monopólio atômico que os Estados Unidos detiveram até 1949, mas a capacidade da potência rival de responder com efetividade a um eventual ataque nuclear, o que dependia da disponibilidade de ogivas em quantidade suficiente e meios para entregá-las. É a certeza compartilhada do contragolpe devastador que inibe a beligerância de ambos e exclui entre eles a hipótese de guerra. “Destruição mútua assegurada”, M.A.D. no acrônimo em inglês, trocadilho que sempre fez a delícia dos críticos. Esse estado de coisas foi atingido na década de 1960 do século passado.
Durante a Guerra Fria, os especialistas discutiram interminavelmente como deveriam ser entendidos os termos desta equação. O que constitui um ataque devastador? Quão elevado precisaria ser o custo do segundo golpe para que se tornasse inaceitável, afastando assim a ameaça da agressão? Mas as diferentes respostas a tais questões não alteravam a lógica do cálculo.
Ele se modifica inteiramente, porém, se concebermos a possibilidade de evitar as consequências funestas do primeiro ataque, o que idealmente poderia ser conseguido mediante a destruição do armamento nuclear do inimigo[26] e/ou da montagem de um sistema de defesa capaz de neutralizar, no todo ou em parte, o seu eventual ataque.
Com seus efeitos inibitórios e permissivos (a imunidade ao adversário traduzia-se em liberdade de projeção de poder em terceiros espaços), a situação de equilíbrio nuclear envolvia estímulos a que esta possibilidade fosse ativamente buscada. Mas qualquer movimento neste sentido prometia deslanchar uma corrida armamentista elevando sobremaneira o risco de guerra. É no contexto dessas pressões contraditórias que a dissuasão ganha forma, gradualmente, como um regime internacional. A criação da Agência Internacional de Energia Atômica, em 1958, o Tratado de Limitação de Testes Nucleares, em 1963, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, de 1968, e os Acordos SALT I, de 1972, que estabeleciam limites fixos aos veículos lançadores estratégicos (mísseis intercontinentais, mísseis balísticos lançados de submarinos e bombardeiros) são momentos importantes no processo de constituição deste regime.
Mas, para o tema em discussão aqui, é o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, de 1972, que mais importa. Este tratado vedava a construção de sistemas nacionais de defesa de mísseis balísticos com potencial para interceptar os mísseis balísticos intercontinentais da outra superpotência, embora permitisse a pesquisa sobre esses dispositivos em laboratório. Sobre ele, vale a pena citar o comentário do autor de um estudo valioso sobre o tema.
The superpowers therefore agreed to a condition of mutual vulnerability by signing the Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty) on May 26, 1972. This treaty outlawed the deployment of large national missile defenses, and codified the strategic condition known as Mutually Assured Destruction (MAD). Henceforth, the ability to defend became viewed as the conceptual opposite to deterrence, and anathema to security. In time, the ABM Treaty came to be held as sacrosanct by some actors in the US and others in the international system, which viewed it as the cornerstone of strategic stability, an essential pivot of the global arms control regime, and a symbol of great power co-operation[27].
Compreende-se, assim, o impacto provocado pelo anúncio feito por Reagan, em 23 de março de 1983, de que seu governo daria início a um programa gigantesco para a construção de um escudo antimísseis – sistema complexo de sensores, satélites e lançadores capazes de interceptar ainda no ar qualquer artefato dirigido contra o território dos Estados Unidos – o qual, além de proteger sua população, livraria a humanidade da situação insana e imoral da paz como o avesso da hecatombe. Durante anos, o líder republicano tinha sido um crítico contumaz dos acordos de controle de armas, simples rendição, a seu ver, à chantagem do inimigo. Recebido por alguns com maravilhamento, angústia por outros e perplexidade geral, seu discurso trazia a público o elemento mais espetacular de uma política que rompia declaradamente com a estratégia da dissuasão, ao postular que os Estados Unidos deveriam estar preparados para travar, se necessário, e prevalecer em um conflito nuclear com a União Soviética.
Tal disposição não impediu que, em seu segundo mandato, Reagan estivesse à testa, com Gorbachev, de negociações sobre armas nucleares de ambição sem precedentes. Já fiz referência a este episódio que marcou o final da Guerra Fria e não preciso insistir nele. Mas devo observar que o processo negociador só avançou, porque o líder soviético assentiu em deixar o programa de defesa antimísseis fora da discussão.
O sonho de Reagan, como sabemos, não se materializou. Referida ironicamente pelos críticos como “Guerra nas Estrelas”, a SDI – Iniciativa de Defesa Estratégica na sigla em inglês – esbarrou em dificuldades técnico-científicas e problemas orçamentários derivados do custo financeiro astronômico das pretensões nela depositadas. Reduzido em seu alcance – proteção do arsenal nuclear, não dos centros urbanos –, sua implantação protelada sine die, o programa não teve o efeito revolucionário imaginado: a lógica da dissuasão continuou dominando as negociações pela redução de armas nucleares que se estenderam pelo mandato do sucessor de Reagan.
Mas o seu significado a médio e longo prazo não pode ser minimizado. Basta considerar a mudança no universo da política de defesa nacional dos Estados Unidos implicada na magnitude dos recursos financeiros e técnico-científicos que mobilizou e nas expectativas assim despertadas. Com orçamento projetado de cerca de US$ 26 bilhões para os cinco primeiros anos, e custo total estimado na casa dos trilhões, a SDI envolveu a realização de milhares de contratos de Pesquisa & Desenvolvimento, os maiores dos quais, naturalmente, com os gigantes do setor. No final de 1985, o quinhão da Lockheed Martin, primeira da lista dos 20 maiores contratantes, foi de US$ 1,24 bilhão, enquanto o total canalizado para o seleto grupo (que reunia outros nomes conhecidos como General Motors, Boeing, General Eletric, Raytheon, entre outros) atingiu a cifra de US$ 7,554 bilhões. Contemplando ainda uma miríade de pequenas firmas privadas, a maior parte para atividades de consultoria, centros de pesquisa espalhados pelas universidades mais prestigiadas do país, além de dezenas de grandes laboratórios públicos mantidos pelos três ramos das Forças Armadas (além da DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, e da DNA, Defense Nuclear Agency), estimou-se que cerca de 19 mil cientistas, engenheiros e técnicos trabalhavam para a SDI em 1987[28].
Estava formado, assim, um poderoso amálgama de grupos econômicos, burocráticos e profissionais com forte interesse no avanço do programa, que era sustentado no campo político pelos defensores (principalmente republicanos) de uma estratégia agressiva em relação à União Soviética.
O tema da defesa antimísseis manteve-se em pauta nos governos Bush sênior e Clinton, mas agora em chave diferente. Superada a ameaça soviética, em condições de unipolaridade, o desafio a enfrentar não vinha mais de uma grande potência nuclearizada – “par competidor” (do inglês “peer competitor”), para usar a expressão cifrada – mas de Estados proscritos (“rogue states”), ou de organizações terroristas que poderiam fazer uso de mísseis balísticos para atacar alvos pontuais (tropas americanas, ou forças aliadas) com armas de destruição em massa (químicas, biológicas e mesmo nucleares) em teatros regionais. O emprego de mísseis Scud pelo Iraque durante a Guerra do Golfo serviu como advertência. Mas situação muito mais séria ocorreu em 1994 na crise com a Coreia do Norte, ocasião em que foi estimado entre 300 e 500 mil o número de vítimas na hipótese de um ataque nuclear à Coreia do Sul, onde os Estados Unidos mantêm uma tropa de cerca de 30 mil homens[29].
Ao longo do tempo, a resposta dada a esta situação tomou duas direções. De um lado, esforço concentrado no desenvolvimento de armas nucleares e convencionais – o emprego combinado tendia a borrar em alguma medida as diferenças entre ambas – mais eficientes e precisas, numa estratégia de contraproliferação que contemplava o emprego preventivo de ambas, se necessário, em flagrante violação do espírito e da letra do TNP.
A valorização do nuclear nas novas condições criadas com o fim da Guerra Fria não era unânime, mas, no trabalho de revisão da política nuclear dos Estados Unidos conduzido ainda no primeiro governo Clinton, prevaleceu – contra a orientação do então secretário assistente de Defesa, Ashton Carter, encarregado de dirigir os estudos – a visão do Comando Estratégico (SRATCOM, na sigla em inglês), que reservava um papel central a este componente do poder militar da superpotência[30]. Vencida a primeira batalha, o ponto de vista do Comando Estratégico predominou amplamente na reforma do setor nuclear dos Estados Unidos, como nos informa o autor de um estudo de referência sobre o tema.
This reform essentially meant the transition from a quantitative to a qualitative posture. Even though President Bill Clinton in 1997 issued new guidance to the war planners that reportedly removed all previous requirements for planning to fight and win protracted nuclear wars, the nuclear posture that resulted from STRATCOM’s reform – and the improved flexibility of the nuclear war planning system that flowed from it – means that much remains the same: protracted nuclear war or not, STRATCOM still has to “win” any conceivable nuclear clash, whether it be with Russia, China, or so-called “rogue” states. This “credible deterrent” still requires flexible, multiple-platform, and hardened nuclear forces, planning principles that remain firmly rooted in STRATCOM’s analyses from the 1990s[31].
De outro, retomada do programa de defesa antimísseis, redefinido agora em seu escopo e abrangência: desenvolvimento de sistemas de defesa adaptáveis, concebidos para interceptar mísseis balísticos de curto ou médio alcance em regiões conflitivas do mundo. Introduzida já no governo Bush sênior (National Missile Defense Act, dezembro, 1991), esta orientação foi mantida durante os dois mandatos de Clinton, longo período durante o qual o debate sobre o tema girou em torno da compatibilidade do programa, em suas sucessivas versões, com o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos de 1972, reproduzindo-se sempre a polarização no Congresso entre os defensores de uma interpretação ampla do Tratado de forma a torná-lo condizente com um programa nacional de defesa antimísseis (republicanos, representantes políticos dos interesses aglutinados em torno da Iniciativa de Defesa Estratégica de Reagan) e democratas, mais sensíveis ao impacto que um avanço menos comedido nesta área teria previsivelmente no relacionamento com a Rússia[32].
Em 1997, o governo dos Estados Unidos negociou com a Rússia um “acordo de demarcação” que estabelecia critérios de diferenciação entre defesa contra mísseis de teatro (permitida) e defesa antimíssil estratégica, ou nacional (proibida), mas, em janeiro de 1999, cedendo à maioria republicana no Congresso, Clinton promulga a Lei Nacional de Defesa contra Mísseis (National Missile Defense Act) nos termos da qual se obrigava a instalar um escudo nacional contra mísseis “assim que tecnologicamente possível”[33]. Meses depois, no calor da crise provocada pelos bombardeios da OTAN a Belgrado, Clinton procurou tranquilizar o recém-eleito Vladimir Putin, garantindo-lhe ser pessoalmente contrário à revogação unilateral do Tratado sobre Mísseis Balísticos. Fica ao leitor a pergunta sobre como essas palavras teriam caído nos ouvidos do presidente russo. O certo é que, em julho do ano seguinte, ele se juntava ao chefe de Estado chinês, Jiang Zemin, em Pequim, para denunciar os planos americanos sobre defesa contra mísseis balísticos, prometendo a construção de uma aliança estratégica entre os dois países, a fim de combater o predomínio dos Estados Unidos na política mundial[34].
***
O resto da história é conhecido. Atentados do 11 de Setembro; operação militar no Afeganistão; “Guerra Global ao Terror”; saída do Tratado sobre Mísseis Balísticos; nova Estratégia de Segurança Nacional (2002) que consagra a doutrina da guerra preventiva.
Com George W. Bush, a opção pela supremacia nuclear é explícita. Mas só conseguimos entender este fato se o encaramos como o coroamento de um processo que tem início ainda quando o mundo festejava o fim da Guerra Fria.
3.2. Expansão da OTAN
A confirmação ainda demorou bastante, mas quando Bill Clinton se reuniu com os chefes de Estado da Europa Central, em Praga, no dia 12 de janeiro de 1994, a decisão já estava tomada. Na coletiva de imprensa que se seguiu ao encontro, o presidente dos Estados Unidos abordou nestes termos o tema de interesse central para todos ali.
Let me be absolutely clear: The security of your states is important to the security of the United States […] While the Partnership is not NATO membership, neither is it a permanent holding room. It changes the entire NATO dialog so that now the question is no longer whether NATO will take on new members but when and how[35].
A incorporação oficial dos primeiros países do Leste europeu deu-se bem mais tarde porque, a despeito do peso determinante do Executivo americano, a OTAN é uma organização intergovernamental, obrigada, portanto, a pagar tributo às formalidades definidas em seus estatutos, que exigem decisão unânime dos membros para admissão de novos sócios. Mas esta não foi a única razão da demora, e não terá sido a principal. A decisão de estender a OTAN no espaço antes organizado pelo Pacto de Varsóvia tinha profundas implicações geopolíticas. Para que a Presidência americana desse efetividade à sua opção, ela precisava construir consensos amplos e obter o apoio majoritário no Congresso, ao tempo em que cuidava de aplacar as resistências externas que cedo se manifestaram.
A primeira tarefa neste caminho era a pacificação do tema no interior mesmo da administração democrata. Na verdade, a construção do consenso neste âmbito começou bem antes, com a constituição de um grupo de trabalho encarregado de produzir uma recomendação sobre a postura a ser levada pelo governo americano à Conferência de Praga. Esta busca de entendimento era indispensável, pois as resistências em setores da burocracia à ideia de ampliação da OTAN não eram pequenas.
E não faltavam razões para escorá-las. Partindo principalmente de funcionários do Departamento de Defesa, com longa experiência de trabalho na “Aliança Atlântica”, as objeções do Pentágono, expressas por seu dirigente, o secretário Les Aspin, derivavam da preocupação com o impacto da decisão na relação dos Estados Unidos com a Rússia e seus efeitos sobre a política de promoção da democracia naquele país. Em vez da expansão da OTAN, o Pentágono favorecia o fortalecimento da Parceria para a Paz (Partnership for Peace) – programa concebido pelo general John Shalikashvili, comandante supremo aliado na Europa que previa acordos de cooperação militar com países egressos do extinto Pacto de Varsóvia, como parte de um sistema europeu de segurança que incluiria de algum modo a Rússia através da Conferência para Segurança e Cooperação na Europa e do Conselho de Cooperação do Atlântico Norte. Era esta também a alternativa preferida pelo então secretário de Estado, Warren Christopher, que defendia o protelamento do debate sobre a ampliação da OTAN[36].
As mesmas razões voltaram a se apresentar com força anos depois, quando a questão entrou na agenda do Congresso americano e passou a ser debatida na esfera pública. As vozes que se opunham à expansão da OTAN eram numerosas, e algumas vinham de nomes proeminentes, como o do senador democrata Sam Nunn – conservador empedernido, autoridade reconhecida em matéria de segurança nacional e coautor da lei que ajudava a Rússia a reduzir seu armamento e armazenar seu material nuclear – e do lendário George Kennan, autor do Long Telegram, que estabeleceu, em 1946, quando era chefe adjunto da missão diplomática dos Estados Unidos em Moscou, as bases intelectuais da estratégia de containment. É dele o juízo que se lê abaixo:
… something of the highest importance is at stake here. And perhaps it is not too late to advance a view that, I believe, is not only mine alone but is shared by a number of others with extensive and in most instances more recent experience in Russian matters. The view, bluntly stated, is that expanding NATO would be the most fateful error of American policy in the entire post-cold-war era.
Such a decision may be expected to inflame the nationalistic, anti-Western and militaristic tendencies in Russian opinion; to have an adverse effect on the development of Russian democracy; to restore the atmosphere of the cold war to East-West relations, and to impel Russian foreign policy in directions decidedly not to our liking[37].
Apesar da autoridade dos críticos e do peso de seus argumentos – cujo caráter profético foi demonstrado pela história –, a resolução que chancelava o ingresso da Polônia, da Hungria e da República Tcheca na OTAN foi aprovada pelo Senado dos Estados Unidos em 30 de abril de 1998, por 80 contra 19 votos.
Vencia a parada, dessa forma, a coalizão liderada na burocracia do governo Clinton pelo conselheiro de Segurança Nacional, Anthony Lake, e pelo secretário assistente de Estado, Richard Holbrooke, e fora dela pelo maior expoente democrata na área de política exterior, o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, que aliava em defesa da causa a militância intelectual como articulista prolífico e sua incansável atividade como lobista.
A tese da expansão se impôs não apenas pelo empenho de seus defensores, dentro e fora da administração democrata. Para esse desfecho, muito contribuiu ainda a atitude da ala republicana da elite política dos Estados Unidos. Convencida já no governo H. W. Bush de que a OTAN desempenharia um papel fundamental na consolidação da hegemonia americana na ordem internacional Pós-Guerra Fria, seu posicionamento ganhou significado novo em setembro de 1994, quando Newt Gingrich, estrategista da bem-sucedida campanha republicana nas eleições de meio de mandato de 1994, incluiu a incorporação dos países recém-egressos do bloco socialista na OTAN como um dos itens do “Contrato com a América”, plataforma eleitoral unificadora que levou seu partido à consagradora vitória (os republicanos conquistaram mais 54 assentos na Câmara, e 8, no Senado, obtendo a maioria nas duas casas). A partir desse momento, estava claro que o problema para o governo Clinton não seria o de obter maioria no Senado para expandir a OTAN, mas o de manter o controle sobre o ritmo e a condução do processo de ampliação.
A razão principal, contudo, tem a ver com as escolhas encadeadas que se produziram ao longo do processo de reorganização política na Europa, cujo rumo começou a ser traçado ainda sob Gorbachev, durante as negociações em torno da unificação alemã. No começo nada estava definido, nem o momento nem a forma em que se daria a reconstituição da unidade nacional, e muito menos o papel reservado à Alemanha consolidada na arquitetura futura da segurança europeia. Um passo importante foi dado no encontro entre o chanceler Helmut Kohl e o presidente soviético, em 10 de fevereiro de 1990, no Palácio do Kremlin. Na ocasião, Gorbachev assentiu com a fórmula sugerida por seu interlocutor para interpretar o significado de uma declaração sua: (estamos) “de acordo em que a decisão sobre a unificação da Alemanha é uma questão que os próprios alemães devem agora decidir”. Momento um tanto irrefletido de uma conversa privada ardilosamente aproveitado pelo político teutão, que anunciou a seus ansiosos compatriotas, em coletiva de imprensa transmitida pela TV logo depois do encontro, a palavra empenhada – sem condições – pelo líder da potência que ocupava militarmente, de fato e de direito, o território da Alemanha Oriental, e lá mantinha pesado arsenal nuclear[38].
A retificação não se fez esperar, mas os efeitos da notícia sobre o suposto compromisso do líder soviético não podiam ser revertidos. O debate sobre a unificação da Alemanha ganhava impulso na opinião pública, enquanto os homens de Estado se empenhavam em um jogo diplomático sutil para chegar a um consenso sobre o papel da Alemanha unificada no sistema de segurança europeu. De ponto de vista soviético, a solução para o problema parecia bem simples: com o fim da Guerra Fria e a consequente unificação alemã, não havia mais nenhuma razão para manter o país como núcleo de uma aliança militar, que perdia ipso facto sua razão de ser. A contrapartida da reunificação seria a neutralidade da Alemanha. Com forte eco em amplos setores do público alemão, esta perspectiva, embalada no discurso do “lar comum europeu”, convergia com a posição defendida em Bonn pelo ministro das Relações Exteriores da República Federal Alemã, Hans-Diertich Genscher, que dividia com o chanceler Helmut Kohl a condução das tratativas internacionais com vistas à unificação. Tal resultado, porém, era inaceitável para o governo Bush sênior. Decididos a preservar sua presença militar na Europa, os Estados Unidos faziam questão de manter a Alemanha na OTAN, o que suscitava o problema espinhoso do status do território da antiga RDA. Não cabe entrar em detalhes aqui sobre o desenrolar das negociações sobre o tema. Basta assinalar que elas foram conduzidas por um número reduzido de atores, suscitaram divisões graves em dois dos governos envolvidos (a URSS e a República Federal Alemã) e incluíram garantias de que a OTAN não avançaria ao Leste, nem teria presença militar no território da antiga RDA. Debilitado pela crise econômica e social que levaria pouco depois à implosão da União Soviética, o governo Gorbachev aceitou o formato 4+2 (EUA, URSS, Inglaterra e França, mais a RFA e a RDA) proposto pela equipe de H. W. Bush e acabou se contentando com o compromisso verbal sobre os limites territoriais da OTAN, além de um dispositivo no Tratado de Acordo Final com Respeito à Alemanha, de 12 de setembro de 1990, que interditava a presença de tropas estrangeiras, ou de armas nucleares na antiga RDA (Art. 5, parágrafo. 3). Dispositivo, convém esclarecer, logo a seguir desmentido por uma cláusula do adendo, escrito e assinado por todas as partes do Tratado, nos termos da qual “Any question with respect to the application of the word ‘deployed’ as used in the last sentence of paragraph 3 of Article 5 will be decided by the government of the United Germany in a reasonable and responsible way taking into account the security interests of each contracting party”[39].
A reconstituição que Zarotte faz do episódio revela bem o sentido do dispositivo em causa e da postura geral dos Estados Unidos na negociação. Resultado de conversas bilaterais entre Genscher e os negociadores soviéticos, o parágrafo que vedava o deslocamento de forças estrangeiras no território da antiga RDA era intragável para os americanos. No seu entender, ele era incompatível com a adesão plena da Alemanha unificada à OTAN e tinha implicações de longo prazo que restringiam inaceitavelmente o campo de alternativas futuras – descartada a hipótese favorecida por Genscher e por Mitterrand de um sistema inclusivo de segurança europeia, os negociadores americanos sinalizam com a possibilidade de integração futura na OTAN aos representantes da Checoslováquia que acompanhavam os trabalhos em Moscou, embora não participassem formalmente do processo negociador[40].
Criado o impasse e face à disposição manifesta dos Estados Unidos de não assinarem o Tratado caso ele não fosse superado, o ministro alemão das Relações Exteriores e seu par soviético, Shevardnase, aceitaram a solução proposta por Robert Zoellick, diplomata famoso por seu tato, que assessorava a missão americana em Moscou. É o próprio Zoellick que explica depois o que estava em jogo neste “pequeno detalhe”.
…we needed to secure that possibility because, if Poland were eventually to join NATO in a second step, we wanted American forces to be able to cross East Germany on their way to be stationed in Poland[41].
Em janeiro de 1990, quando a figura da Alemanha unificada começou a aparecer claramente no horizonte, o pesadelo dos estrategistas americanos era a possibilidade de que Helmut Kohl negociasse com Gorbachev a unidade nacional em troca da neutralidade. Zoellick – cujo único defeito, segundo o secretário de Estado James Baker, seu chefe, era o de ser esperto demais – expôs brutalmente o motivo da ansiedade: “if the Germans work out unification with the Soviets,’ ” then “ ‘NATO will be dumped”[42]. Oito meses depois, ele e seus superiores podiam dormir aliviados: a presença militar americana na Europa Pós-Guerra Fria estava assegurada, aberto o caminho em direção ao Leste para a OTAN.
Encerrava-se, assim, o primeiro episódio de uma história não muito edificante, cujo sentido está bem expresso na passagem transcrita a seguir, que sintetiza bem o resultado mais geral da pesquisa minuciosa e fartamente documentada em que tenho me apoiado nesta parte do estudo.
In essence, the American leader turns the policymaking equivalent of a ratchet – a tool that allows motion in one direction only – and Russia responds. Each turn forecloses other possibilities, making it impossible to reverse course and choose a different direction. The consequences become cumulative as the sequence of decisions unfolds[43].
**** ****
A sobrevivência da OTAN ao contexto geopolítico que a originou suscita uma questão desafiadora, para a qual a literatura de Relações Internacionais oferece respostas desencontradas.
Na visão de alguns, sua persistência ilustra uma regularidade conhecida dos estudiosos da Sociologia das Organizações: a tendência que os sistemas desse tipo exibem de se autorreproduzir, redefinindo seus objetivos à medida que os iniciais se esgotam, seja por terem sido realizados, seja por se mostrarem inalcançáveis, tais como previamente definidos. Seria, assim, uma manifestação entre outras do fenômeno da alienação: os seres humanos se agrupam e criam associações para resolver problemas coletivos determinados, mas, com o tempo, a organização que eles formam com tais propósitos ganha vida própria e se reprograma, quando necessário, tendo em vista sua perpetuação.
Embora sugestivo, o argumento padece de inúmeros problemas, o principal dos quais é o da abstração deslocada: a explicação de um fenômeno particular – a sobrevivência desta organização muito especial, a OTAN – com base em propriedades gerais do gênero a que pertence.
Este defeito está ausente do argumento exposto em obra de fôlego dirigida especificamente à pergunta sobre a durabilidade da OTAN. Adotando uma abordagem histórico-comparativa, seu autor trata a OTAN como um tipo singular de aliança militar – distinta daquelas recorrentes na história e presumidas na literatura sobre o tema –, cujo traço distintivo seria o processo avançado de integração dos aparelhos bélicos dos Estados envolvidos, resultado tornado possível pela convergência de valores entre eles e a natureza democrática de seus sistemas políticos[44].
O problema com esta linha de análise é a elaboração insuficiente do conceito de aliança. Neste particular, as observações de Kenneth Waltz sobre a OTAN me parecem de todo pertinentes. No mundo multipolar, o núcleo de uma aliança consistia em um pequeno número de Estados de capacidades comparáveis; a contribuição de cada um era crucial para a segurança de todos. No mundo bipolar, dada a marcada assimetria existente entre os Estados que compunham os dois blocos, a situação se altera fundamentalmente. Neste contexto, o termo aliança adquire um novo significado, pois cabia às duas superpotências prover a segurança do seu respectivo bloco. “Properly speaking – arremata Waltz – NATO and the WTO (Warsaw Treaty Organization) were treaties of guarantee rather than old-style military alliances”[45].
Ora, com o fim da Guerra Fria nem essa condição continua a ser preenchida. Se não há como definir a ameaça, não cabe falar em aliança. No entanto, a OTAN permanece. Como explicar a anomalia? A resposta de Waltz é contundente:
Liberal institutionalists take NATO’s seeming vigor as confirmation of the importance of international institutions and as evidence of their resilience. Realists, noticing that as an alliance NATO has lost its major function, see it simply as a means of maintaining and lengthening America’s grip on the foreign and military policies of European states[46].
Waltz corrobora esta afirmativa, referindo casos ilustrativos da oposição manifestada pelos Estados Unidos aos arroubos de autonomia no plano da defesa e da política externa que se manifestaram por ocasião do Tratado de Maastricht, de 1991, que fundou a União Europeia. E menciona, igualmente, o contentamento declarado de suas autoridades diante da decisão europeia de buscar sua “identidade de segurança e defesa” nos marcos da Aliança, como “pilar europeu da OTAN”. Caberia discutir porque a União Europeia cede à vontade da superpotência e abdica de sua pretensão (mais vigorosamente expressa pela França; em alguns momentos pela Alemanha também) de operar com autonomia estratégica no campo da defesa e da segurança, mas isso nos distanciaria do tema deste artigo.
Convém tomar outro comentário no mesmo artigo de Waltz como atalho para voltar à questão que nos ocupa aqui, do relacionamento tortuoso entre Rússia e Estados Unidos.
With good reason, Russians fear that NATO will not only admit additional old members of the WTO but also former republics of the USSR. In 1997, NATO held naval exercises with Ukraine in the Black Sea, with more joint exercises to come, and announced plans to use a military testing ground in western Ukraine. In June 1998, Zbigniew Brzezinski went to Kiev with the message that Ukraine should prepare itself to join NATO by the year 2010. The further NATO intrudes into the Soviet Union’s old arena, the more Russia is forced to look to the south and east rather than to the west[47].
Vimos no início deste tópico que a Rússia (a rigor, a União Soviética) buscou por todos os modos garantir que a OTAN não se estenderia futuramente em direção às suas fronteiras. Vimos também quão reduzido foram os resultados obtidos nesse empreendimento. No final de 1993, quando o movimento pela inclusão da Polônia, da República Tcheca e da Hungria ganhava fôlego, o então presidente russo, Boris Yeltsin, expressava a Clinton em tom muito amigável, mas com toda clareza, seu desconforto com as discussões em curso para esse efeito. Reiterando a preferência russa pela construção de um sistema de segurança comum pan-europeu, Yeltsin faz questão de dizer que não vê a adesão de países do Leste necessariamente como uma ameaça – “NATO is not viewed as a bloc in opposition to us” –, mas assinala o impacto negativo que ela teria na opinião pública russa – “not only the opposition, but the moderate circles as well” – e invoca o espírito do parágrafo 3 do Tratado de unificação alemã, que interditava o deslocamento de forças pelo território da antiga RDA – espírito exorcizado pelo memorando anexo ao documento, como já vimos[48].
Não se tratava de simples gesticulação tática. Imerso em profunda crise econômica e submetido a forte contestação política interna – em 21 de setembro de 1993, Yeltsin ordena o bombardeio do Parlamento para resolver a seu modo a crise constitucional em curso –, o governo russo decidira se render à realidade dos fatos e se conformar com a incorporação daqueles países na OTAN. Não por outro motivo, em maio de 1997, Yeltsin encontrava-se em Paris para a cerimônia de assinatura do Ato Fundador sobre Relações Mútuas, Cooperação e Segurança entre a Federação Russa e a OTAN. Pelo acordo, as partes declaram solenemente que “a OTAN e a Rússia não se consideram como adversárias. Elas compartilham o objetivo de superar os vestígios da confrontação e competição pregressas e de fortalecer a confiança mútua e a cooperação”. E, “partindo do princípio de que a segurança de todos os Estados da comunidade euro-atlântica é indivisível”, comprometem-se a “construir juntos uma paz duradoura e inclusiva na área euro-atlântica sobre os princípios da democracia e da segurança cooperativa”[49].
Não obstante os compromissos assumidos e os protestos de boa vontade, três anos depois as relações entre a Rússia e a OTAN haviam se degradado a um ponto tal que justificavam o comentário esclarecedor de Kenneth Waltz.
1997-2000: três eventos entrelaçados explicam a mudança radical operada nesse ínterim.
- A crise no Kosovo e a disposição americana de intervir militarmente no conflito, a despeito da opinião russa, que se opunha a medidas de força contra a sua aliada Iugoslávia. Com este agravante: a decisão de fazê-lo sem autorização da ONU, para evitar o veto anunciado da Rússia no Conselho de Segurança da entidade. Vale dizer, uso da força em violação flagrante das normas do direito internacional. Como observa Vincent Puilot, autor de um estudo notável sobre o relacionamento entre a OTAN e a Rússia, o episódio “expôs a ficção jurídica do Ato Fundador acordado dois anos antes”. Nos termos edificantes daquele documento, as partes se absteriam de ameaçar, ou de usar a força (contra qualquer um dos signatários, bem como contra outros Estados) de modo incompatível com a Carta das Nações Unidas. E buscariam resolver eventuais desacordos mediante consultas políticas conduzidas com “mútuo respeito e boa vontade”. Com a guerra da Iugoslávia, a palavra empenhada converte-se em letra morta. “In fact – conclui Pouilot – “the Kosovo crisis substantiated everything the Russians had feared about the doubly enlarged Alliance”[50].
- A mudança operada na autodefinição da OTAN e de sua visão estratégica. Antecipada na cúpula de Roma, em 1991, e implementado a partir da reunião ministerial de Madri, em 1997, o trabalho do Grupo de Coordenação Política (PCG, na sigla em inglês) foi trazido a público no comunicado sobre o Conceito Estratégico da OTAN, ao final da cúpula de Washington, em 24 de abril de 1999, enquanto os aviões com a bandeira da organização bombardeavam Belgrado. Além de uma conceituação ampla e elástica de segurança – que passa a incluir dimensões econômica, política (ênfase na democracia, no Estado de Direito e nos direitos humanos) e ecológica – o novo conceito estratégico abraçava a ideia de garantia ativa da paz, o que justificava a disposição manifesta de intervir em nome desse objetivo além das fronteiras do território da organização[51].
- A indicação de que a OTAN se preparava para acolher novos ingressantes. De certa forma já manifesta durante o debate a respeito da primeira ampliação – quando os defensores de uma lista reduzida de três convidados derrotaram os propositores de listas mais amplas –, a disposição de colocar em prática a “Política de Portas Abertas” foi institucionalizada na cúpula de Washington com a criação do Plano de Ação para a Adesão (MPA, na sigla em inglês), um roteiro prático que os países aspirantes deveriam seguir a fim de se prepararem para a admissão[52]. Este programa aplainou o caminho para mais sete países da Europa Central e Oriental – Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia e Lituânia –, cujo ingresso foi consumado em 29 de março de 2004, pouco antes da cúpula de Istambul.
Com a integração dos três países bálticos – antigas repúblicas soviéticas –, a OTAN chegava finalmente às fronteiras da Rússia, tornando reais os fantasmas que há muito agitavam o sono de suas elites.
-
A Ucrânia na Grande Estratégia dos EUA
4.1. Política de governo e política de Estado.
Como indicado na introdução, o ponto de partida deste estudo foi a pergunta sobre a ambivalência do governo Biden diante da guerra da Ucrânia e, em todos os seus momentos, a ideia norteadora da análise foi a de que a chave para a compreensão do comportamento dos Estados Unidos no conflito jazia no padrão historicamente construído de relacionamento entre vencedor e vencido, Estados Unidos e Rússia, no Pós-Guerra Fria. Antes de concluir o percurso devo considerar o papel atribuído à Ucrânia neste processo.
Nesta perspectiva, a primeira coisa a fazer é qualificar a pergunta inicial. Política do governo Biden diante da guerra? O que a rápida reconstituição histórica empreendida neste artigo demonstra é que a política para a Rússia – e por extensão para a Ucrânia – não é deste ou daquele governo. O que temos à nossa frente é a expressão de uma grande estratégia, uma política de Estado. Naturalmente, o Estado é uma abstração vazia, se separado dos sucessivos governos que o encarnam, cujas políticas variam de acordo com suas orientações ideológicas respectivas e os vínculos que mantêm com diferentes segmentos da sociedade, mas também – no caso da política exterior, sobretudo – das situações cambiantes com que são confrontados. Neste sentido, cabe falar de políticas de governo, sem dúvida, mas elas surgem como momentos de um “todo diferenciado sucessivo”, como os acordes de uma melodia, cuja qualidade é dada pelo contexto musical precedente, o qual se modifica retroativamente pela emergência do novo acorde[53].
Ao assumir a presidência, Biden já encontrou a Ucrânia em situação de guerra larvar intestina, e a relação dos Estados Unidos com a Rússia, gravemente deteriorada. No quadro desenhado pelas duas “decisões fatídicas” antes examinadas, os pontos de atrito que levaram a tal situação foram vários, mas, entre todos, a disputa em torno da Ucrânia teve um papel especial. Não só pelos laços socioeconômicos e culturais que vinculam historicamente Ucrânia e Rússia, mas pelo significado da primeira na geopolítica mundial.
Sobre este ponto, melhor do que falar em nome próprio é ouvir um observador-participante, cuja palavra, além de instruída, é das mais autorizadas.
The appearance of an independent Ukrainian state […] represented a vital geopolitical setback for the Russian state. […], (it) meant the loss of a potentially rich industrial and agricultural economy and of 52 million people ethnically and religiously sufficiently close to the Russians to make Russia into a truly large and confident imperial state. Ukraine’s independence also deprived Russia of its dominant position on the Black Sea, where Odessa had served as Russia’s vital gateway to trade with the Mediterranean and the world beyond. The loss of Ukraine was geopolitically pivotal, for it drastically limited Russia’s geostrategic options[54].
… if Moscow regains control over Ukraine, with its 52 million people and major resources as well as its access to the Black Sea, Russia automatically again regains the wherewithal to become a powerful imperial state, spanning Europe and Asia. Ukraine’s loss of independence would have immediate consequences for Central Europe, transforming Poland into the geopolitical pivot on the eastern frontier of a united Europe[55].
Ex-conselheiro de Segurança Nacional de Jimmy Carter, com raízes profundas na ala democrata do establishment da política exterior americana, Brzezinski não era um observador participante qualquer. Já o vimos em ação no debate sobre a expansão da OTAN, durante o qual sobressaiu-se como a voz externa mais influente na defesa da tese vencedora. Presença importante na vida política da Polônia, seu país de origem (chegou a ser cogitado como candidato à sucessão de Lech Walesa, em 1995), e tendo liderado, nos Estados Unidos, a montagem de organismos especializados na advocacia de políticas voltadas para a região (fundou o U.S-Poland Action Committee e o American-Ukranian Advisory Committee no prestigioso Center for Strategic and International Studies), Brzezinski mantinha relações estreitas também com a elite política da Ucrânia, interlocutor que foi de Leonid Kravchuk e Leonid Kuchma, seus dois primeiros presidentes como país independente[56].
Na visão de Brzezinski, a história imperial da Rússia fora momentaneamente interrompida, mas não terminada, com a implosão da União Soviética. “Within the Russian foreign policy establishment, diz ele, (composed largely of former Soviet officials), there still thrives a deeply ingrained desire for a special Eurasian role, one that would consequently entail the subordination to Moscow of the newly independent post-Soviet states”[57]. Para que a Rússia se reorganizasse como um país normal, uma democracia de mercado, integrada à Europa – e, portanto, no sistema de segurança centrado na Aliança Atlântica –, seria imprescindível deixar para trás tal veleidade, o que só aconteceria com o decidido apoio ocidental à independência desses países.
Não é outra a ideia-força a guiar, desde a última década do século passado, a política dos Estados Unidos para a Ucrânia.
4.2 De Clinton a Biden. A política dos EUA para a Ucrânia e a crise internacional.
Política de longo prazo, informada por uma visão estratégica precisa sobre o papel da Ucrânia no jogo de poder mundial. Já aludi a duas expressões dela em outra parte deste artigo – quando me referi à informação dada em 2014 pela secretária assistente de Estado dos EUA, Victoria Nuland, sobre o montante despendido pelos Estados Unidos em apoio a grupos e organizações qualificados como democráticos, e à avaliação do ex-embaixador americano em Moscou Michael McFaul, sobre o papel das instituições ocidentais na chamada Revolução Laranja, em 2004. Cabe agora mostrar como esta política foi plasmada ao longo do tempo.
Vencido o período inicial de negligência, quando a política externa dos Estados Unidos para a região foi dominada pelo imperativo de evitar o fantasma da proliferação nuclear, poucos meses depois de inaugurado, a viagem de dois dias a Kiev do então embaixador-geral, Strobe Talbott, sinalizava a sensibilidade maior do governo Clinton às condições e anseios da Ucrânia. Ela foi imediatamente seguida por outras iniciativas diplomáticas destinadas a marcar a importância atribuída ao país pela nova administração em Washington. Assim, no começo de junho, o secretário da Defesa, Les Aspin, chegava à Ucrânia, levando duas propostas: a elaboração de uma carta sobre as relações bilaterais, expressando o interesse nacional dos Estados Unidos na independência da Ucrânia; e uma sugestão sobre como lidar com a questão do estoque de armas nucleares em solo ucraniano[58]. Este foi o tema principal da conversa mantida por Clinton com o presidente Leonid Kravchuk, em sua rápida passagem por Kiev, em 12 de janeiro de 1994, quando fez o convite para que a Ucrânia participasse do Programa Parceria para a Paz, da OTAN. Dois dias depois eles, voltariam a se encontrar em Moscou para assinarem com Yeltsin a Declaração Trilateral, que definia a Ucrânia como país não nuclear – em troca da promessa de compensações financeiras e garantias de segurança[59].
Esta posição foi confirmada pelo Parlamento ucraniano, ao aprovar, em 5 de dezembro de 1994, projeto que declarava a Ucrânia um país livre de armas nucleares – no mesmo dia, o presidente Leonid Kuchma assinava, com os líderes do Cazaquistão e da Bielorrússia, o chamado Memorandum de Budapeste, pelo qual a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos se comprometiam a não ameaçar, ou fazer uso de força militar, ou de coerção econômica, contra os mencionados países, como preâmbulo à adesão dos mesmos ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear.
A primeira fase no relacionamento entre os Estados Unidos e a Ucrânia é coroada pela aprovação da Carta sobre a Parceria Distinta entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Ucrânia, na cúpula de Madri, em 1997. Sobre este documento – que dava satisfação (parcial, por não ter força de lei) às expectativas da Ucrânia na área da segurança por sua participação em operações de paz nos Bálcãs e por não se opor ao primeiro ciclo de expansão da OTAN[60] – vale a pena citar alguns pontos da contribuição feita contemporaneamente por um observador qualificado, para um dossiê sobre o tema.
-
The NATO-Ukraine Charter will inevitably be seen by some in Russia and particularly [by] the military, as a further measure of NATO’s encirclement of Russia.
-
Its signing at the Madrid Summit will similarly be seen as evidence of NATO’s ‘triumphalism’ in ‘winning the Cold War’.
….
- The conduct of NATO/Ukrainian exercises on Ukrainian territory, and in the Black Sea, will need very sensitive handling vis-à-vis Russia.
…
- Having recently signed an Agreement with Russia (the Black Sea Fleet / Sevastophol issue having been finessed), it is not unreasonable to see this Charter with NATO as an act of ‘political balancing’! I, however, would tend to see a different balance. I suspect that, in practice, the Charter will do little to strengthen Ukraine’s security; and could do much to weaken NATO’s coherence and cohesion[61].
Expectativas ucranianas. Convém salientar este aspecto, porque a política de atração exercida pelos Estados Unidos seria impensável, se não convergisse com um movimento interno à sociedade e a política ucranianas. Com efeito, partilhando longo passado comum; profundamente integrada à Rússia em sua cultura, economia e infraestrutura energética; tendo um conjunto de questões contenciosas a resolver com antiga potência ora imersa em crise convulsiva, a elite estatal ucraniana, maciçamente formada por egressos do PCUS (85% dos congressistas eleitos em 1990, além do presidente Kravchuk e de seu sucessor imediato, Kuchma[62]) cedo abraçou o projeto de afirmar sua independência por meio da integração ao universo das instituições ocidentais (em particular, a OTAN e a União Europeia). Mas a intensidade e o ritmo do processo de integração dividiam opiniões na elite política e, mais ainda, no conjunto da sociedade.
Decisiva para a identidade nacional em formação, a questão dos laços com a Rússia e com a Europa Ocidental esteve no âmago das duas crises políticas maiores que abalaram a Ucrânia no Pós-Guerra Fria. Não por acaso, ambas representaram também pontos de inflexão no relacionamento da Ucrânia com os Estados Unidos.
O envolvimento destes na primeira delas já foi objeto de rápido comentário em outra parte do artigo. Cabe agora observar que, previsivelmente, o governo constituído por Viktor Yushchenko – candidato de oposição declarado vitorioso no pleito que se seguiu à nulidade da eleição presidencial de novembro de 2004, ganhada fraudulentamente, segundo as denúncias, pelo situacionista Yanukovich – contou inicialmente com apoio declarado do governo George W. Bush.
Inicialmente, porque, pouco tempo depois de formado, seu gabinete entrou em crise e foi dissolvido, para se recompor ironicamente com a nomeação de Yanukovich ao cargo de primeiro-ministro. Durante o curto e desconfortável período de coabitação, as relações com o governo W. Bush ficaram estremecidas. Mas voltaram a bons termos quando este político, que representava a opinião favorável à preservação dos laços de amizade com a Rússia, foi removido.
A Carta de Parceria Estratégica Estados Unidos-Ucrânia, assinada em 19 de dezembro de 2008 – 8 meses e meio após o veto alemão à abertura do processo de adesão da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, durante a cúpula de Bucareste, e quatro meses depois da intervenção militar russa na Geórgia – expressa com eloquência esta mudança. Reiterando princípios gerais que vinham há muito norteando as relações entre os dois países – “apoio à soberania, independência, integridade territorial e inviolabilidade das fronteiras” – e a importância da Ucrânia como país democrático capaz de se autodefender para a paz e a prosperidade da Europa, a Carta prevê um programa de cooperação com vistas ao fortalecimento da candidatura da Ucrânia à OTAN. Neste contexto, a Carta antecipa a estruturação de um plano para aumentar a interoperabilidade e a coordenação de capacidades entre a OTAN e a Ucrânia, inclusive através de treinamento e equipamentos melhores para as Forças Armadas ucranianas[63].
Não podemos examinar o desenvolvimento das ações previstas nesse texto, mas o depoimento prestado pela secretária assistente adjunta de Defesa para Rússia, Ucrânia e Eurásia, Evelyn N. Farkas, em audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, é suficientemente ilustrativo para os propósitos do presente artigo.
We continue to realize the gains from investments that we have made over the last 20 years in the International Military Education and Training program […] as officers trained in U.S. military institutions have assumed position of greater responsibility in Ukraine’s Armed Forces. We saw this manifested in the great professionalism and restraint exercised by the Ukrainian military during the demonstrations on the Maidan when the Ukrainian military refused to use force against peaceful demonstrators and in their courage and restrain in the face of overwhelming force in Crimea[64].
O objeto da audiência era a ação dos Estados Unidos na segunda grande crise política a abalar a Ucrânia na sua curta existência como país independente. Entrementes, o governo resultante da “Revolução Laranja” terminara inteiramente desmoralizado, e seu presidente fora derrotado pelo ex-primeiro-ministro Yanukovich, na tentativa de reeleição que obteve pouco mais do que 5% dos votos.
Reversão frustrante para os condutores da política exterior dos Estados Unidos e de seus aliados. Não que o governo Yanukovich tenha representado uma ruptura política radical. É certo, ele reafirmou a condição da Ucrânia como país “não bloco”, mas manteve a orientação pró-ocidental da diplomacia ucraniana, cujo objetivo maior, naquele momento, era a conclusão de um acordo de livre-comércio e associação com a União Europeia. Foi o fracasso dessas negociações e a decisão de Yanukovich de aceitar o polpudo empréstimo oferecido pela Rússia, sem condicionalidades, que precipitou a Revolta de Maidan.
Não posso me deter neste episódio, mas devo fazer ainda assim um ligeiro reparo. Falar de Maidan como uma onda de protesto pacíficos é destorcer a história de um movimento que envolveu a ocupação de prédios públicos (inclusive um depósito de munições do Exército) e a morte de 100 pessoas por disparos de atiradores de elite postados em local controlado por integrantes do movimento[65]; distorção não menor é falar da violência que vem da Crimeia para se referir a um referendo que se desenrolou sem encontrar nenhuma resistência e terminou sem deixar nenhum saldo de vítimas.
Mas a parcialidade do depoimento não surpreende, porque nos acontecimentos de fevereiro 2014 os Estados Unidos foram tudo menos um terceiro neutro e desinteressado. Evidência disso foi a atuação ostensiva de figuras proeminentes do Estado americano, como o senador John McCain e a indefectível Victoria Nuland, na incitação do desafio às autoridades constituídas, e no pronto reconhecimento de um governo provisório, logo depois que o Parlamento ucraniano foi tomado de assalto pela turba inconformada com a conclusão de um acordo que poderia pôr um fim negociado à crise política[66].
Esta saída foi bloqueada e, desde então, não se encontrou nenhuma saída. Logo depois de rasgado o acordo mediado pela França, Polônia e Alemanha, a Crimeia declarou a sua independência e, na sequência, o movimento separatista estendeu-se ao Donbass, aqui assumindo formas de luta violenta. Com isso (e com a anexação subsequente da Crimeia pela Rússia), a guerra tomou o lugar da crise política.
Neste contexto, o confronto entre Estados Unidos e Rússia se agrava sobremaneira, e seu envolvimento com a Ucrânia ganha outra dimensão.
Os números constantes do quadro a seguir falam por si mesmos.
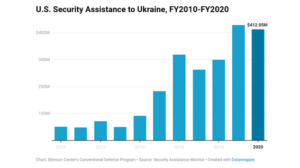
Apud. Elias Yousif, “U.S. Military Assistance to Ukraine,” Stimson Center, January 26, 2022.
Segundo estudo preparado por equipe do Congressional Research Service, entre 2014 e março de 2022, os Estados Unidos destinaram mais de US$ 4 bilhões, através dos Departamentos de Estado e da Defesa, “para ajudar a Ucrânia a preservar sua integridade territorial, assegurar suas fronteiras e melhorar a interoperabilidade com a OTAN”[67]. Parte significativa desses recursos terá sido aplicada em programas de treinamento militar, finalidade para o qual foi criado, em 2015, o Centro de Treinamento de Combate de Yavoriv, parte do Grupo de Treinamento Multinacional Conjunto-Ucrânia, na região de Lviv, próximo da fronteira com a Polônia[68]. Não consegui encontrar informação precisa, mas o autor do estudo do Stimson Center citado acima estima que, entre os anos fiscais de 2015 e 2019, pelo menos 10.629 militares ucranianos receberam treinamento nestes programas[69].
A informação quantitativa, porém, não diz tudo e talvez esconda o principal. Os Estados Unidos responderam à anexação da Crimeia e ao apoio russo aos separatistas do Donbass com sanções e ajuda militar, como vimos. Resta esclarecer que os primeiros passos nessa direção foram relativamente moderados – apesar dos argumentos em contrário provindos do próprio campo democrata[70], o governo Obama resistiu até o fim ao fornecimento de armas letais à Ucrânia – e que a política contra a Rússia tornou-se crescentemente agressiva, em boa medida por iniciativas oriundas do Congresso (Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act of 2014; Ukraine Freedom Support Act of 2014; Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017; Crimea Annexation Non-recognition Act, aprovado pela Câmara de Representantes, em março de 2019, com a esmagadora maioria de 427 votos, contra 1). Convém ainda acrescentar que o agravamento das relações com a Rússia intensificou-se no governo Trump, que se valeu de autoridade legislativa para liberar o envio de armas letais à Ucrânia, ao tempo em que ampliava o número e o alcance dos exercícios militares na região.
A crise internacional tornou-se aguda no último trimestre de 2021, com a decisão de Putin de concentrar tropas na Bielorrússia, mas as tensões entre a Rússia e a OTAN já vinham escalando há tempos, como indica o significativo aumento dos incidentes militares entre elas no período precedente[71].
**** ****
Nesta altura, a mudança no caráter da crise na Ucrânia estava prestes a se completar. Entre 2013 e 2014, assistimos a uma crise política doméstica, com forte e óbvio componente internacional. A anexação da Crimeia e a eclosão dos movimentos separatistas convertem a crise política em guerra, mas não alteram fundamentalmente a natureza das forças em conflito: ele continuava opondo o governo ucraniano – agora depurado dos partidários de uma política pró-russa – e os rebeldes separatistas, que já não se reconheciam como pertencentes à comunidade política que aquele governo pretendia representar.
Tratava-se ainda de uma guerra civil, e assim foi tratada nas sucessivas rodadas de negociações internacionais com vistas à paz: Gênova (2014), Minsk I (2014), Minsk II (2015). Este fato estampado nas cláusulas mais importantes desses acordos, como
-
Dialogue on (1) modalities of local elections in accordance with Ukrainian legislation and (2) the future status of “certain areas” in Donetsk and Luhansk and specification of the areas in eastern Ukraine to which this status applies
-
Restoration of full Ukrainian control over its border with Russia, beginning from the first day after local elections and ending after a comprehensive political settlement, following the introduction of a new constitution and permanent legislation on the special status of certain areas in Donetsk and Luhansk.
-
Constitutional reform, including on decentralization, and permanent legislation on the special status of certain areas in Donetsk and Luhansk, in agreement with representatives of nongovernment-controlled areas[72].
Como sabemos, este acordo não foi implementado, apesar das sucessivas fórmulas idealizadas pela diplomacia dos países mediadores para operacionalizar suas previsões de forma aceitável ao conjunto das partes signatárias. Plano Morel (embaixador francês): aceito por França, Alemanha e Rússia, rejeitado pela Ucrânia; Iniciativa Sajdik (diplomata austríaco): aprovado por Alemanha, Rússia e França, rejeitado pela Ucrânia; Fórmula Steinmeier (Frank-Walter Steinmeir, ex-ministro das Relações Exteriores e depois presidente da Alemanha): acolhida pela Alemanha, pela França e pela Rússia, mas não pela Ucrânia. A última tentativa foi a de fatiar o acordo, escalonando suas obrigações. Ela estava em andamento quando sobreveio a crise internacional e transformou inteiramente a configuração do conflito[73].
Não há como considerar em detalhes as razões de tamanho fracasso. Mas uma das principais terá sido a mudança nada sutil na definição ontológica do conflito que se produz concomitantemente. Não na visão deste ou daquele analista, mas como fato institucional, formalizado em lei. Com efeito, ao mesmo tempo em que o governo Poroshenko reiterava a contragosto o seu compromisso com o Acordo de Minsk 2, a Rada (Parlamento ucraniano) aprovava, em janeiro de 2018, a lei 7163 que inviabilizava formalmente sua aplicação, ao definir a ação militar no Leste da Ucrânia como operação destinada a repelir a agressão russa, ao impor a lei marcial na região conflagrada e ao estabelecer que o controle de fronteiras seria transferido ao governo ucraniano antes da realização das eleições locais, ao contrário do que estipulava o artigo 9 do Minsk-2[74].
Na verdade, a qualificação derrogatória do conflito foi consagrada muito antes. Eleito em maio de 2014 com a promessa de estabelecer a paz expeditivamente, Poroshenko pouco depois adota o discurso da corrente extremista do nacionalismo ucraniano, que rejeita a diversidade étnica, cultural e linguística do país, em nome de uma identidade nacional a construir, profundamente excludente. Nessa perspectiva, a possibilidade de uma saída negociada para o conflito desaparece, porque – negada a existência do interlocutor legítimo – não há com quem negociar.
Nicolai Petro, autor do magnifico e pungente livro em que me apoio nesta parte do estudo, esclarece a premissa estratégica a informar esta posição e indica o seu papel na produção da tragédia.
It was believed that this strategy of non-negotiation, which was supported by the United States and its European allies, would eventually force Russia to leave Donbass. Isolated from its main supporter, the rebels would then have no choice but to capitulate on Kiev’s terms. If this strategy had worked in Donbass, then it could presumably have been used to gain back Crimea as well. But, instead of surrendering in the face of Western sanctions, Russia increased its aid to the region and raised the stakes by offering Donbass residents Russian passports. By May 2021, more than a third of Donbass residents had acquired Russian passports[75].
Profecia que se autorrealiza. Definido o conflito como internacional e a Ucrânia como vítima de invasão russa (isto já em 2014), não há o que discutir, muito menos barganhar. O território perdido tem que ser reconquistado, e quem discordar disso não merece ser chamado de cidadão, é um “quinta-coluna” a serviço do agressor.
Decorrência direta de uma política fundada no conceito da nação como totalidade homogênea em contexto histórico que o repele, tal postura tem raízes na história ucraniana. Mas ela não teria finalmente se imposto sem o concurso dos Estados Unidos e aliados, que acolheram os seus pressupostos no traçado de seus programas de ação, em seus textos legais, e na atividade propagandista que desenvolvem.
O impasse já estava criado quando Biden assume Presidência dos Estados Unidos. É sobre este pano de fundo que ele vai operar quando a crise internacional atingir o seu ápice.
-
A Guerra na Ucrânia e o Governo Biden
- “As long as it takes” (“pelo tempo que for preciso”).
Joseph Biden concluiu o discurso que proferiu em Kiev, na comemoração do primeiro aniversário de resistência contra a invasão russa, com esta frase de efeito que desde então vem sendo repetida ritualmente, como expressão do compromisso inabalável dos Estados Unidos com a causa ucraniana. No entanto, basta refletir um segundo para perceber que a fórmula altissonante não poderia ser mais vaga.
For preciso para quê? E para quem este quê será necessário?
Preciso, supostamente, para repelir a agressão e derrotar o ofensor. Mas qual o referente exato do substantivo neste caso? A agressão que se deu em 24 de fevereiro de 2022? Ou oito anos antes, quando a Crimeia se declarou independente e foi logo a seguir anexada pela Rússia?
Necessário para o país invadido, certamente. Mas os ucranianos se batem por um direito, não por um pedaço de terra. A agressão de que foram vítimas violenta o sistema de normas no contexto do qual este direito existe como princípio basilar. Nesse sentido, o significado de sua luta é universal. Os ucranianos estão na linha de frente, mas não estão sós. A guerra não é apenas sua, ela diz respeito a todos nós.
Não se trata de mera retórica. A pronta reação Ocidental à intervenção militar russa, as sanções econômicas sem precedentes, a ajuda militar muitas vezes bilionárias, a mobilização de recursos intangíveis – sob a forma de treinamento, Inteligência, apoio logísticos e cibernético –, tudo isso mais a guerra de informação e propaganda, já há muito lançada quando do início das hostilidades, mostram claramente que a disputa no terreno é apenas uma das frentes de uma guerra a envolver muitos atores, travada simultaneamente em muitos lugares.
O reconhecimento desta realidade óbvia e orgulhosamente assumida satisfaz os envolvidos, mas elimina qualquer resposta simples às perguntas levantadas. Se muitos participam da guerra, a definição dos fins e dos meios adequados para alcançá-los será coletiva e, nela, a voz do mais forte sempre pesará mais.
Vimos, na introdução deste artigo, que a voz do governo estadunidense nem sempre foi muito afinada. Vimos também que nem sempre ela soou em uníssono com a voz ansiosa do governo da Ucrânia.
Depois de um percurso longo, esta parte final será dedicada a um exame um pouco mais atento da conduta do governo Biden no decorrer do conflito.
- Da crise internacional à Guerra.
Se sabiam que iriam invadir, por que não fizeram nada para evitá-lo?
A pergunta amarga é feita por Volodymyr Ischenko, pesquisador ucraniano de esquerda, quase ao fim de uma longa e dolorosa entrevista sobre a tragédia que se abateu sobre o seu país[76]. Haveria dois caminhos para desescalar a crise e preparar o terreno para a volta da (relativa) normalidade. A via da dissuasão (contramobilização de meios de violência de magnitude tal que implicasse a alteração nos valores sopesados nos cálculos estratégicos do agressor, levando-o a uma correção de rumos), ou aquela da negociação séria, o que implicaria levar em conta os requisitos de segurança externa da Rússia – e, na verdade, uma inflexão profunda na política do Estado americano para a Ucrânia e para a região.
O comportamento dos Estados Unidos durante a guerra do Yom Kippur, em 1973, ilustra bem a primeira alternativa. Os dois campos beligerantes sendo apoiados política e militarmente pelas duas superpotências, quando o Exército israelense, então prevalente no campo de batalha, deu indicações de que iria destroçar as forças egípcias no Sinai, a União Soviética ameaçou intervir diretamente no conflito. Nestas circunstâncias, produzidas no ápice da crise política que levaria à renúncia de Richard Nixon, Henry Kissinger, então no exercício do cargo de secretário de Estado, decretou um alerta global que fez o mundo reviver o pesadelo da hecatombe nuclear pela primeira e última vez, desde a crise dos mísseis em 1961. A solução dessa feita foi mais rápida. Afastada a hipótese de envio de tropas soviéticas, Kissinger mediou o acerto que assegurou o cessar-fogo e abriu o caminho para os Acordos de Camp Davis, em 1978, entre Israel e Egito.
Nada remotamente parecido se deu no final de 2021 e nos dois primeiros meses de 2022. O que se viu então foi um lance canhestro de diplomacia pública, por meio do qual os Estados Unidos revelavam a seus aliados e ao mundo que a Rússia estava ultimando os preparativos para invadir a Ucrânia, prometendo puni-la com sanções econômicas de rigor sem precedentes. Ao mesmo tempo, operavam um deslocamento modesto de tropas para países vizinhos (Romênia e Polônia), mas se apressavam em assegurar que estava descartado o enfrentamento militar com a Rússia.
Quanto à via diplomática, ela se limitou a três conversas telefônicas entre Biden e Putin, além de encontros inócuos entre altos funcionários de seus governos. Em dado momento, a Rússia produziu duas minutas de documentos jurídicos – um endereçado aos Estados Unidos[77]; outro, aos membros da OTAN[78] –, cujas cláusulas davam forma às suas pretensões mais ousadas. Estes textos foram, contudo, desqualificados como instrumentos de propaganda, ou como mera encenação. Não houve nenhuma tentativa de testar a disposição da Rússia de negociar uma solução aceitável para o conflito que se arrastava há anos, abrindo a discussão sobre alguns dos pontos suscitados, a começar pelo relacionamento da Ucrânia com a OTAN. A despeito da ameaça de guerra, a posição proclamada do governo americano a este respeito mantinha-se inalterada: reitera-se o apoio à política de “portas abertas” da OTAN e o direito da Ucrânia de decidir sobre sua defesa, no exercício pleno de sua soberania.
Embora sensível ao estado da opinião pública americana e beneficiada pelo apoio bipartidário, a autocontenção do governo Biden ao excluir de antemão a hipótese de resposta bélica à Rússia não passou sem críticas. Para o analista e ex-funcionário do Departamento de Defesa Ian Brzezinski, que porta o sobrenome do seu ilustre progenitor, Biden teria diluído sua “fonte de alavancagem mais importante nesta crise”. A seu ver, Biden deveria considerar, como elemento de dissuasão, o envio de tropas ao oeste da Ucrânia. Juízo similar foi emitido por Evelyn N. Farkas – que trabalhou no Departamento de Defesa durante o governo Obama – em artigo publicado em janeiro de 2022, no qual defende a preparação dos Estados Unidos para a guerra com a Rússia pela Ucrânia[79].
Esta crítica ao comportamento do governo Biden na crise internacional pode parecer ingênua. Para alguns, sob a exaltação das denúncias, das ameaças e dos protestos indignados, estaríamos assistindo à encenação de um script há muito traçado, cujo objetivo seria o de atrair a Rússia para uma guerra desastrosa que seria “o seu segundo Afeganistão” – antessala de uma operação de mudança de regime há muito arquitetada nos escritórios de Washington[80].
Esta interpretação me parece implausível. Não porque a mudança de regime fosse estranha aos desejos e aos cálculos dos planejadores estratégicos americanos, mas porque ela implica admitir que estes desconheciam as diferenças abissais entre Ucrânia e Afeganistão, com suas consequências prováveis para o curso do conflito – em vez de uma guerra assimétrica, longa e desgastante como os próprios Estados Unidos iriam experimentar, no mesmo local, duas décadas depois, uma guerra convencional de alta intensidade com impacto imediato sobre os países vizinhos. Uma guerra para a qual nem os EUA nem seus aliados europeus estavam devidamente preparados.
Pista mais esclarecedora para a compreensão da postura do governo Biden diante da crise encontramos na resposta dada pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, à pergunta sobre os próximos movimentos da Rússia, em entrevista publicada cerca de um mês antes da invasão da Ucrânia.
“Well, I’ll let Moscow speak for itself. I can only speak for the United States. And for the United States, we’re ready either way. We’re ready if Russia wants to move forward with diplomacy, and we put some ideas and proposals on the table for their consideration, and we’re prepared to continue discussions about those. But if Russia wants to go down the path of invasion and escalation, we’re ready for that too, with a robust response in coordination with our allies and partners”[81].
O que chama a atenção do leitor na fala do conselheiro de Biden é a sua aparente indiferença entre as duas pontas da disjuntiva que se apresentava para o mundo naquele instante. Diplomacia, ou guerra, tanto faz, estamos preparados para ambas as circunstâncias. Pelo que se pode depreender dos depoimentos publicados pela revista Politico em dossiê preparado para marcar o primeiro ano da guerra, a esta altura, a equipe de Biden já estava convencida de que Putin havia decidido invadir a Ucrânia. Considere-se, por exemplo, a afirmativa da subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado, Victoria Nuland: “Frankly, we didn’t have a good sense of exactly when they would move. We thought it could be anywhere from the last week of January to the last week of February.” Ou o relato de William Burns, ex-embaixador em Moscou, nomeado por Biden para dirigir a CIA:
“I saw Zelensky in the middle of January to lay out the most recent intelligence we had about Russian planning for the invasion, which by that point had sharpened its focus to come straight across the Belarus frontier — just a relatively short drive from Kyiv — to take Kyiv, decapitate the regime and establish a pro-Russian government there. With some fair amount of detail, including, for example, the Russian intent to seize an airport northwest of Kyiv called Hostomel, and use that as a platform to bring in airborne forces as well to accelerate the seizure of Kyiv”[82].
A fala de Sullivan expressa bem a atitude do governo Biden face à invasão iminente. Não houve nenhuma tentativa de impedi-la, o que demandaria disposição de fazer concessões sérias, ou de assumir riscos elevados. A inexistência desta é reconhecida com sinceridade incomum neste comentário feito no calor dos acontecimentos por Willian Klein, membro associado do Center for Strategic and International Studies.
“The basic truth is that Vladimir Putin was prepared to go to war to advance his interests in Ukraine, whereas the Western countries, including the United States […] did not have an interest in going to war with Russia themselves over Ukraine” “That’s a basic imbalance in the interests”[83].
Mas, sendo assim, para entender a conduta dos Estados Unidos na crise internacional e logo a seguir na guerra, devemos desviar os olhos do conflito na Ucrânia para contemplar a concepção estratégica no corpo da qual os interesses nacionais neste caso em particular são definidos.
- A Ucrânia no quadrilátero da crise.
A forma mais simples de começar a fazer isso é seguir na leitura da entrevista antes citada de Jake Sullivan. Com efeito, depois de passar em revista diferentes temas pontuais de política externa, a entrevistadora levanta a questão que fornece o título à matéria:
“What do you see as being the throughline between all of the major foreign-policy initiatives that the administration has undertaken so far? What are the ideas or ambitions that underpin this administration’s foreign policy?”.
Confortável em seu papel de explicador, Sullivan expõe telegraficamente as ideias norteadoras da “doutrina Biden”. Os dois pilares que a sustentam são, de um lado, a prioridade conferida à tarefa de restaurar os laços com os aliados e parceiros – indispensáveis para enfrentar os desafios dramáticos de nosso tempo (clima, epidemia, proliferação nuclear, igualdade econômica); de outro, a convicção de que a fonte do poder americano no mundo reside no vigor de sua sociedade, da qual deriva o reconhecimento da relação intrínseca entre política externa e doméstica.
“it matters profoundly to the lives of the American people, whether it’s things like the global minimum tax or managing the supply chain crisis or dealing with climate or dealing with Chinese economic coercion”[84].
Não há nada de novo na afirmativa sobre a comunhão profunda entre política interna e externa. Como vimos no início deste estudo, um dos antecessores de Sullivan no cargo que ora ele ocupa chegou a falar em “evaporação da linha” entre as duas políticas. Mas entre a fala de Anthony Lake, conselheiro de Segurança Nacional de Clinton, e a do assessor de Biden há uma diferença notável. Vitoriosos na Guerra Fria, imbuídos de autoconfiança, nos anos 1990s do século passado os Estados Unidos se viam – e eram vistos! – então como um poder incontrastável. Nesse contexto, a tese da correspondência entre política externa e interna servia como justificativa para o investimento na tarefa de reformar o mundo, nos planos econômico, social e político, segundo o seu figurino. Trinta anos depois, os Estados Unidos projetam a imagem de uma sociedade fraturada e assistem com ansiedade crescente à ascensão de uma potência que ameaça desalojá-los da condição hegemônica que até bem pouco tempo atrás tinham como sua, por direito natural. A fórmula é a mesma, mas agora o seu sentido é inverso: ela serve para exaltar um programa de reconstrução nacional que nega explicitamente alguns dos pressupostos do modelo econômico que por décadas os Estados Unidos propagaram como universal.
As linhas mestras deste projeto são conhecidas: investimento pesado em infraestrutura; reindustrialização; redesenho das cadeias produtivas; desenvolvimento científico-tecnológico; política industrial (com enfoque setorial e uso extensivo de subsídios); Alexander Hamilton no lugar de Milton Friedman e Friedrich Hayek.
Esta reorientação já estava traçada durante a campanha de 2020. O que Sullivan e o próprio Biden dizem hoje a respeito do programa econômico e social do governo e sobre suas conexões com a política externa segue de perto o roteiro elaborado pelo grupo de trabalho criado pela Carnegie, que tinha o futuro Conselheiro de Segurança Nacional entre seus integrantes. Centrado na ideia de instituir os interesses da classe média como fundamento da política exterior dos Estados Unidos, chama a atenção do leitor o espaço muito desigual que este documento dedica à Rússia (4 referências) e à China (86, incluídas 12 referências na bibliografia citada)[85].
É que a reestruturação do capitalismo americano – e por tabela da economia mundial – que o governo Biden propõe é parte de uma grande estratégia de restauração hegemônica, cujo fundamento é assumidamente geopolítico. As medidas restritivas ao comércio de produtos de alta tecnologia com a China (equipamentos para a produção de chips de última geração, por exemplo) são indicativos desse fato. Trata-se de deter o avanço da potência rival em setores essenciais para o êxito na competição econômica e militar. Este é o elemento geopolítico na face tecnológica da estratégia. A outra face – tão ou mais importante – são os preparativos para a eventualidade do confronto armado com a China, que muitos nos Estados Unidos dão como certa: aumento significativo do orçamento de defesa; corrida armamentista; reforço das existentes e estabelecimento de alianças novas com vistas à formação de uma rede em torno da China, capaz, em caso de guerra, de inibir-lhe os movimentos.
Ora, no desenho dessa grande estratégia a Rússia ocupa um lugar importante, mas nitidamente secundário. A atenção modesta que ela recebe no relatório da Carnegie antes referido já evidenciava este fato, que é explicitamente reconhecido na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Em debate desde o primeiro ano do governo Biden, este documento – que deve ser renovado periodicamente, por força de lei – foi publicado em 2022, no auge da guerra na Ucrânia. Em tais circunstâncias, o destaque conferido à Rússia não surpreende, mas a diferença entre o desafio que ela representa para a “ordem internacional baseada em regras” forjada e garantida pelos Estados Unidos e aquele criado pela China é explicitamente assinalado em seu texto.
Russia and the PRC pose different challenges. Russia poses an immediate threat to the free and open international system, recklessly flouting the basic laws of the international order today, as its brutal war of aggression against Ukraine has shown. The PRC, by contrast, is the only competitor with both the intent to reshape the international order and, increasingly, the economic, diplomatic, military, and technological power to advance that objective[86].
A estratégia, ensinava Clausewitz, é o emprego dos combates para os propósitos da guerra. Creio não exagerar ao dizer que há um grande consenso na comunidade de política exterior dos Estados Unidos sobre a hierarquia dos desafios levantados pela Rússia e pela China. Deixando de lado a crítica anti-imperialista de esquerda e a posição periférica dos que defendem a acomodação dos Estados Unidos à multipolaridade, o debate estratégico aberto pela crise na Ucrânia gira em torno da questão sobre como ela se inscreve na ordem de combates a enfrentar nos dois “teatros de operações” onde a disputa pelo poder mundial está sendo travada.
Para um segmento do establishment da política exterior, os Estados Unidos devem se preparar para o enfrentamento militar simultâneo dos dois contendores – a Rússia e a China. Os partidários deste ponto de vista acreditam que os Estados Unidos mantêm, apesar de tudo, sua condição unipolar, e precisam se valer de sua superioridade presente para deter os desafiantes, antes que seja tarde demais[87].
Opinião próxima é sustentada por quem vê na guerra da Ucrânia a oportunidade de alterar significativamente a correlação de forças em escala mundial, impondo uma derrota militar catastrófica à Rússia que leve, no limite, ao desmembramento de seu território. Sem o concurso de sua grande aliada, a China estaria sobremaneira enfraquecida, não tendo como resistir ao cerco contra ela armado pelos Estados Unidos e aliados[88].
Diferentes no sequenciamento das ações previstas, ambas as posições coincidem na definição maximalista dos objetivos desta guerra particular, que deve ser vista como um episódio da “guerra” maior e multidimensional em curso presentemente no mundo. Não há espaço para paz negociada na Ucrânia, que só terminará com a expulsão da Rússia do território internacionalmente reconhecido do país – aí incluída a Crimeia. Os Estados Unidos devem subscrever os objetivos maximalistas verbalizados pela liderança ucraniana e lhe assegurar os meios necessários para realizá-los, ainda que ao custo de uma escalada, com sua implicação obrigada: a propagação do conflito e o envolvimento direto nele das forças da OTAN[89].
Orientação oposta adotam os analistas que, desde a abertura das hostilidades, vêm insistindo na obviedade de que a maioria das guerras termina na mesa de negociações e de que, na Ucrânia, nenhum dos lados será plenamente exitoso em suas pretensões. Alguns dos representantes desta posição defendem há muito tempo uma política tendente a mitigar tensões no relacionamento com a Rússia, ou pelo menos a não agravá-las, e um deles esteve entre os membros da equipe de Clinton críticos da política de expansão da OTAN[90]. Preocupados com o risco de escalada, alguns deles são sensíveis também ao impacto no médio prazo da guerra sobre as condições internas nos países afetados, em particular na Europa, onde a deterioração das condições econômicas e sociais tende a reforçar a extrema direita[91].
Fazendo-se ouvir desde o início do conflito, completado o seu primeiro ano, os defensores desta posição passam a detalhar mais as suas propostas, que divergem neste ou naquele aspecto, mas coincidem na tentativa de restabelecer a curto prazo as condições para a normalidade possível – um estado de coisas aceitável do ponto de vista russo, que inclua fortes garantias de segurança para a Ucrânia e condições favoráveis à sua reconstrução[92]. Esta visão comum sobre o estado final não exclui diferenças táticas em relação ao que fazer enquanto o momento da negociação não chega. Nesse sentido, dois dos mais destacados representantes deste campo defenderam o fornecimento de caças F16 mísseis de longo alcance para a Ucrânia como forma de garantir que ela chegaria em posição de força à mesa de negociação[93].
Entre as várias razões para a insistência em uma solução negociada para o conflito na Ucrânia está a avaliação de que o estabelecimento de um modus vivendi com a Rússia é necessário para que os Estados Unidos possam concentrar esforços no que é mais importante: a competição com a China.
Curiosamente, em alguns aspectos a posição desses analistas – inseridos no campo liberal – converge com aquela, muito mais contundente, da direita populista republicana. Mais ou menos alinhados com Donald Trump – ele mesmo um crítico severo da guerra –, os representantes desta corrente de opinião, como o comunicador Tucker Carlson, ou os senadores Josh Hawley e J. D. Vance, contestam o alegado interesse nacional americano no conflito, acusam a política oficial de desviar a atenção do verdadeiro inimigo, a China, e a responsabilizam por produzir uma situação passível de descambar muito facilmente para uma guerra mundial[94].
Mais conhecido por suas expressões na arena política, este ponto de vista surge também no debate estratégico, onde é vocalizado por vozes minoritárias, mas não externas ao establishment, como a de Elbridge A. Colby, por exemplo. Neto de um ex-diretor da CIA, formado em Havard e Yale, autor de livro influente sobre a grande estratégia dos Estados Unidos[95], Colby foi um dos principais formuladores da Estratégia de Segurança Nacional de 2018, que rompeu com a estratégia dos dois cenários adotada no Pós-Guerra Fria (planejamento com vistas à vitória dos Estados Unidos no cenário de guerras simultâneas em dois teatros), a fim de garantir o preparo necessário para a eventualidade da guerra contra a China. Tendo defendido sempre essa opção no debate público[96], manteve, previsivelmente, uma posição francamente crítica à condução do governo Biden na crise da Ucrânia[97]. Embora não poupe adjetivos na condenação da Rússia, ele sustenta que o conflito afeta apenas marginalmente a segurança nacional dos Estados Unidos e defende que a responsabilidade pela gestão do conflito seja assumida pela Europa – que se vê, ela sim, seriamente afetada pela política russa e detém recursos mais do que suficientes para se defender do perigo[98].
Esta tese – a atribuição à Europa do protagonismo no conflito com a Rússia – é partilhada também por críticos liberais, que têm defendido a solução negociada para a guerra da Ucrânia[99].
- O Impasse como opção de política e a moralidade da guerra.
Entre as três posições esquematicamente caracterizadas acima, a política do governo Biden não se enquadra exatamente em nenhuma. Com a primeira, compartilha – ao menos retoricamente – o objetivo maximalista de derrotar militarmente a Rússia, garantindo à Ucrânia a recuperação de todo o seu território, aí incluída a Crimeia. Mas coincide com a segunda e a terceira na prioridade conferida à Ásia, na recusa a um envolvimento direto no conflito armado com a Rússia e no cuidado em evitar a sua escalada. Ao mesmo tempo, insiste na prerrogativa de dizer a última palavra sobre a política da OTAN e se mantém ambígua no tocante à abertura de negociações com vistas ao cessar-fogo, a pretexto de que caberia à Ucrânia, e só à Ucrânia, decidir de sua oportunidade.
A natureza contraditória de tais posicionamentos ficou manifesta na cúpula da OTAN que se reuniu em Vilnius, Lituânia, nos dias 11 e 12 de julho do ano corrente. Não obstante a campanha intensa do governo Zelensky e contra a vontade expressa de grande parte dos sócios – em particular os países da Europa Central e de Leste –, os Estados Unidos rejeitaram a proposta de convidar a Ucrânia para integrar a OTAN, ou de estabelecer um cronograma para sua acessão, mesmo reiterando que sua acolhida futura estava assegurada. Para tanto, contudo, duas condições precisariam ser preenchidas: o fim da guerra e a realização das reformas internas requeridas para tal fim.
Ora, como pôr fim à guerra se o objetivo proclamado é a vitória no campo de batalha, mas os meios são limitados, e seu emprego, submetido a restrições severas? Esta, a pergunta implícita na queixa insistente de Zelensky e dos seus: até o momento, a Ucrânia ainda espera os aviões caças que solicita desde a deflagração do conflito; os combatentes ucranianos não podem usar o armamento disponível de forma adequada.
“To save my people, why do I have to ask someone for permission what to do on enemy territory?” – pergunta com indisfarçada indignação o general ucraniano – “This is our problem, and it is up to us to decide how to kill this enemy. It is possible and necessary to kill on his territory in a war. If our partners are afraid to use their weapons, we will kill with our own”[100].
O problema para o general Valery Zaluzhny e seus pares é que a Ucrânia carece de armas próprias, dependendo do equipamento fornecido pelos Estados Unidos e seus aliados para travar a guerra.
É certo, atacar o território russo significa escalar o conflito, acarretando o emprego provável do armamento nuclear. Mas a ascensão aos extremos está na lógica da guerra. Interditar aos ucranianos os movimentos que lhe dão realidade, implica vedar-lhes o caminho (mesmo o imaginário) para a vitória.
Querer os fins, rejeitando os meios. O resultado da contradição é um plano estratégico que projeta no horizonte um cenário de guerra de atrito permanente, que pode exaurir a Rússia, mas a um custo indizível, em termos materiais e humanos – para a Ucrânia, em primeiro lugar, mas também para muitas outras sociedades.
Biden assumiu o governo dos Estados Unidos com uma plataforma que dividia o mundo entre democracias e autocracias e revestia o conflito entre elas de elevado conteúdo moral. Independentemente do juízo que se faça sobre o início da guerra na Ucrânia – e vimos neste artigo que ele nada tem de simples, ou unilateral – prolongá-la indefinidamente é mobilizar os bons sentimentos dos ingênuos para encobrir a mais radical imoralidade.
* Sebastião Velasco e Cruz é coordenador do INCT-INEU e do OPEU, Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP).
Notas explicativas e referências
[1] As informações contidas neste breve relato foram extraídas de BAER, PETER & SHEAR, Michael D., “Biden’s Surreal and Secretive Journey Into a War Zone”, The New York Times, 20/2/2023, e SAMUELS, Brett, “How President Biden’s secretive trip to Ukraine came together”, The Hill, 20/2/2023.
[2] WHITE HOUSE, Remarks by President Biden and President Zelenskyy of Ukraine in Joint Statement, 20/2/2023.
[3] CORDES, Nancy et alli, “Zelensky calls for fighter planes in Zoom call with Congress”, CBS News, 5/3/2022.
[4] “President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine”, The New York Times, 31/5/2022.
[5] “Zelensky says Ukraine prepared to discuss neutrality in peace talks”, BBC NEWS, 28/3/2022; “Ukraine ready to discuss adopting neutral status in Russia peace deal, Zelenskiy says”, Reuters, 28/3/2022.
[6] “Austin says US wants to see Russia’s military capabilities weakened”, CNN, 25/4/2022.
[7] Cf. FORGEY, Quint. “Austin: U.S. believes Ukraine ‘can win’ war against Russia”, Politico, 26/4/2022; BORGERIN, Julian, “Pentagon chief’s Russia remarks show shift in US’s declared aims in Ukraine”, The Guardian, 25/4/2022.
[8] Concluí que este seria o desdobramento mais provável do conflito já na primeira vez que refleti sobre o tema, pelas razões que expus em minha participação no programa Conflitos Geopolíticos e Geoeconômicos: Que Futuro Esperar?, organizado pelo Instituto AMSUR, YouTube, 21/3/2022.
[9] Cf. DAALDER, Ivo H. & GOLDGEIER, James, “The Long War in Ukraine. The West needs to plan for a protracted conflict with Russia”, Foreign Affairs, 9/1/2023.
[10] MEARSHEIMER, John J. “Playing with Fire in Ukraine. The underappreciated risks of catastrophic escalation”, Foreign Affairs, 17/8/2022.
[11] HUDSON, Michael, “Germany’s position in America’s New World Order”, in Michael Hudson on Finance, Real Estate and the Power of Neoliberalism, 2/11/2022.
[12] HUDSON, Michael, “America’s real adversaries are its European and other allies”, Ibid., 8/2/2022.
[13] “In their search for the foundations of a wide consensus, the Soviets borrowed extensively from currents of Western thinking to formulate the most central elements of their ‘new thinking.’ […] the concepts of ‘reasonable sufficiency’, ‘nonoffensive defense’, and ‘common security’ were borrowed from recommendations made by the Palme commission (headed by Olof Palme, former Social Democrat prime minister of Sweden) to the United Nations at the beginning of the 1980s. Other elements came from the North-South program developed under the leadership of Willy Brandt, ex-chancellor of Germany and a fellow Social Democrat”. LÉVESQUE, Jacques. The Enigma of 1989. The USSR and the Liberation of Eastern Europe. Berkeley/Los Angeles/Oxford, University of California Press, 1997, p. 34.
[14] RUMER, Eugene; SOLOLSKY, Richard, Thirty Years of U.S. Policy Toward Russia: Can the Vicious Circle Be Broken?, Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 2019.
[15] Cf. PRIMAKOV, Yevgeny. Russian Crossroads. Toward the New Millenium, New Haven & London, Yale University Press, 2004, pp. 266 e segs.; e TALBOTT, Strobe. “Putinism: The Backstory”. The Sixt Annual Ernst May Memorial Lecture, in BURNS, Nicholas; PRICE, Johnathon (eds.). The Crisis with Russia, The Aspen Institute, 2014.
[16] HERSZENHORN, David M.; BARRY, Ellen. “Putin Contends Clinton Incited Unrest Over Vote”, The New York Times, 8/12/2011.
[17] Cf. VELASCO E CRUZ, Sebastião C.,”Ser ou não Ser. Ucrânia, Rússia e os Dilemas da Política Externa Alemã”, Carta Internacional, Vol 8, No. 2, 2013, pp. 58-80. Republicado em Linhas Cruzadas. Sobre as Relações entre os Estados Unidos e a Alemanha. São Paulo, Editora da UNESP, 2016.
[18] SUSLOV, Dimitry. “The US Elections and the Cold War 2.0: Implications and Prospects for Russia”, Valdai Club Report, 9/9/2016.
[19] RUMER, Eugene; SOLOLSKY, Richard, Op. cit. p. 11
[20] Cf. VELASCO E CRUZ, Sebastião C., Democracia e Ordem Internacional. Reflexões a partir de um país grande semiperiférico”, in ___. Globalização, Democracia e Ordem Internacional. Ensaios de teoria e história. São Paulo, Editora Unicamp e Editora UNESP, 2004, pp. 195-245.
[21] LAKE, Anthony. From Containment to Enlargement, 21/9/1993.
[22] Pelo que a então secretária assistente de Estado para Assuntos Europeus e Eurasianos, Victoria Nuland, informou em entrevista a Christiane Amanpour, “The United States has invested some $5 billion in Ukraine since 1991, when it became an independent state again after the collapse of the Soviet Union. And that money has been spent on supporting the aspirations of the Ukrainian people to have a strong, democratic government that represents their interests.” Cf. CNN’S AMANPOUR. “U.S. Point Person on Ukraine Crisis; Ukraine Media Freedom; Imagine a World”, 21/4/2014 (transcrição). Disponível em: <http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1404/21/ampr.01.html>.
[23] MCFAUL, Michael. “Ukraine Imports Democracy. External Influence on the Orange Revolution”, International Security, Vol. 32, No. 2, 2007, pp. 45-83 (p. 73).
[24] Id. Ibid, -. 78-9.
[25] ALLISON, Graham T. et alli. Avoiding Nuclear Anarchy. Containing the Threat of Loose Russian Nuclear Weapons and Fissile Material. Cambridge, Mass., The MIT Press, 1996, p. 3.
[26] Cf. LIEBER, Keir A; Press, DARY G. The New Era of Counterforce. Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence, International Security, Vol. 41, No. 4, 2017, pp. 9-49.
[27] STEFF, Reuben. Strategic Thinking, Deterrence and the US Ballistic Missile Defense Project from Truman to Obama. Surrey/Burlington, Ashgate Publishing, 2013, p. 1.
[28] Reiss, Edward. The Strategic Defense Initiative. Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 60. As informações contidas neste parágrafo foram extraídas todas desta obra. Cf., pela ordem, pp. 60, 69 e 95.
[29] Cf. MCDPNOUGH, David S. Nuclear Superiority. The New Triad and the Evolution of Nuclear Strategy. Adelphi Paper 383, London, The International Institute for Strategic Studies (IISS), 2006, p. 36.
[30] Cf. KRISTENSEN, Hans M. The 1994 Nuclear Posture Review, Nuclear Information Project, July 8, 2005, apud, STEFF, Reuben, Op. cit. p. 70.
[31] KRISTENSEN, Hans M. The Matrix of Deterrence U.S. Strategic Command Force Structure Studies, The Nautilus Institute for Security and Sustainable Development, May, 2001. Disponível em: <http://nautilus.org/wp-content/uploads/2015/07/Matrix-of-Deterrence-KP.pdf>.
[32] Análise circunstanciada do debate político sobre o tema pode ser encontrada em Powaski, Ronald E. Return to Armageddon. The United States and the Nuclear Arms Race, 1981-1999. Oxford/New York, Oxford University Press, 2000.
[33] STEFF, Reuben & KHOO, Nicholas. Hard Balancing in the Age of American Unipolarity: The Russian Response to US Ballistic Missile Defense during the Bush Administration (2001-2008). The Journal of Strategic Studies, 2014 Vol. 37, No. 2, 222-258 (p. 235).
[34] RENNIE, David. Russia and China vow to defy US dominance, The Telegraph, July 19, 2000.
[35] The President’s News Conference with Visegrad Leaders in Prague. January 12, 1994. The American Presidency Project. U.C. Santa Barbara. Disponível em: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/the-presidents-news-conference-with-visegrad-leaders-prague>.
[36] Sobre o debate interno no governo Clinton nesta fase, ver GOLDGEIER, James M. Not Whether but When. The U.S. Decision to Enlarge Nato, Washington, D.C., Brookings Institution Press, 1999, cap. 2 (Partnership for Peace), pp. 14-44. E M.E. Sarotte, Not One Inch. America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate. New Haven & London, Yale University Press, 2021 (“Partnership for Peace”), pp. 173-180.
[37] KENNAN, George F. “A Fateful Error”, The New York Times, 5/2/1997.
[38] O relato do episódio encontra-se em Sarotte, M. E., Op. cit., p. 58 e 60.
[39] GOLDGEIER, James M. , Op. cit., p. 16.
[40] SAROTTE, M. E., Op. cit., p. 98.
[41] Comments by Robert Zoellick, in DUFOURCQ, Nicolas (ed.). Retour sur la fin de la guerre froide et la réunification allemande: Témoignages pour l’histoire. Paris: Odile Jacob, 2020, apud, Zarotte, M.E., Op. cit., p. 104.
[42] ENGEL, Jeffrey A. When the World Seemed New: George H. W. Bush and the Surprisingly Peaceful End of the Cold War. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017, p. 327. Apud, ZAROTTE, Op. cit., p. 44.
[43] SAROTTE, M.E., Op. cit., p. 14.
[44] THIES, Wallace J. Why NATO Endures. Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2009.
[45] WALTZ, Kenneth N. “Structural Realism after the Cold War”, International Security, Vol. 25, No 1, 2000, pp. 5-41 (p. 19).
[46] Id., ibid, p. 20.
[47] Id., ibid, p. 22.
[48] USVIENNA FOR USDEL CSCE. E.O. 12356: DECL:OADR. TAGS: NATO, PREL, RS, XH. SUBJECT: RETRANSLATION OF YELTSIN LETTER ON NATO EXPANSION. REF: (a) STATE 288837 (B) 306913. SEPTEMBER 15, 1993. THE KREMLIN, MOSCOW. Unclassified U.S. Department of State Case No. M-2006-01499. Doc, No. C17533698, Date: 6/15/2016.
[49] NATO. Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation signed in Paris, France, 27 May, 1997. Disponível em: <https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm>.
[50] POULIOT, Vincent. International Security in Practice. The Politics of NATO-Russia Diplomacy. Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2010. p. 205. O trecho a seguir mostra que não se tratava de percepção distorcida neste caso. Em depoimento sobre a decisão de bombardear a capital iugoslava, “Leon Fuerth, Gore’s national security adviser, adds, ‘There was a conscious decision made that the issue toward NATO was existential and we would have to proceed whether the Russians liked it, bought it, rejected it, whatever. But that we would make every effort to explain our purposes and to conduct ourselves in a way that would allow them to reconcile themselves to this’”. GOLDGEIER, James M.; MCFAUL, Michael. Power and Purpose. U.S. Policy toward Russia after the Cold War. Washington D.C., Brookings Institution Press, 2003. p. 251.
[51] NATO. The Alliance Strategic Concept (1999). Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24/4/1999.
[52] NATO. Membership Action Plan (MAP), 24/4/1999.
[53] Devo a analogia à leitura muito antiga de um texto de Oszlak e O’Donnell, os quais se inspiraram, por sua vez, na obra de Milik Capek, The Philosophical Impact of Contemporary Physics. Cf. Oszlak, Oscar; O’Donnell, Guillermo. Estado y políticas estatales en América Latina. Hacia una estrategia de investigación, Buenos Aires, Documento CEDES/G.E. CLACSO/N. 4, 1976, p. 17.
[54] BRZEZINSKI, Zbigniew. The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives. Basic Books, 1997, p. 92.
[55] Id., ibid., p. 46.
[56] Cf. VAÏSSE, Justin; BRZEZINSKI, Zbigniew. America’s Grand Strategist. Cambridge, Mss./London, Harvard University Press, 2008, pp. 379 e segs.
[57] BRZEZINSKI, Z., Op. cit., p. 51.
[58] MCCURDY, Dave. The Evolving U.S. Policy Toward Ukraine. SAIS Review, Vol. 14, No. 1, 1994, pp. 153-169 (pp. 166-67).
[59] RODRIGUEZ, Robert G.. US-Ukranian Relations in the Post-Soviet Era, European Scientific Journal, May 2016, Special edition, pp. 383-426 (p. 388).
[60] KUZIO, Taras. Ukraine and NATO: The Evolving Strategic Partnership, Journal of Strategic Studies, publicação on-line, 24/1/2008.
[61] EBERLE, Admiral Sir James. “Comments”, in NATO-Ukraine Charter: First Act or Curtain Call? BITS Briefing Note 97.1, 07/1997. Participaram do dossiê preparado pelo Berlin Information Center for Transatlantic Security especialistas dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e da Ucrânia, assim como da Rússia.
[62] HOLOWATY, Serhiy. Ukraine: One Year of Independence, in Russia, Ukraine, and the U.S. Response. Queenstown, MD: The Aspen Institute, 1993), 56. Apud, MCCURDY, Dave, Op. cit., p. 154.
[63] Cf. United States-Ukraine Charter on Strategic Partnership. Bureau of European and Eurasian Affairs, Washington, D.C., 19/12/2008. Available at: https://ua.usembassy.gov/our-relationship/u-s-ukraine-charter-strategic- partnership/#:~:text=This%20Charter%20is%20based%20on,foundation%20of%20our%20bilateral%20relations.
[64] FARKAS, Evelyn N. “Prepared Statement of Dr. Evelyn Farkas”, in Ukraine—Countering Russian Intervention and Supporting a Democratic State, U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, Tuesday, May 6, 2014, p. 19.
[65] Cf KATCHANOVSKIM, Ivan. The Maidan Massacre Trial and Investigation Revelations: Implications for the Ukraine-Russia War and Relations, Russian Politics, 8 (2023), pp. 191-205. Para uma avaliação mais geral do papel da violência durante a crise, Cf. ISCHENKO, Volodymir. Far Right Participation in the Ukrainian Maidan Protests: an Attempt of Systematic Estimation, European Politics & Society, 2016, pp. 1-20.
[66] Examinei o episódio, com ênfase no comportamento dos atores internacionais envolvidos, em “Ser ou Não ser? Ucrânia, Rússia e os dilemas da política externa alemã”, in VELASCO E CRUZ, Sebastião C. Linhas Cruzadas. Sobre as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha. São Paulo, Editora UNESP, 2016, pp. 97-109.
[67] ARABIA, Christina L; BOWEN, Andrew S.; WELT, Cory. U.S. Security Assistance to Ukraine, CRS Updated March 28, 2022.
[68] Cf. WELT, Cory. “Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy”, CRS Updated April 29, 2020, p. 40.
[69] YOUSIF, Elias. U.S. Military Assistance to Ukraine, Stimson Center, January 26, 2022.
[70] Como, por exemplo, no relatório publicado conjuntamente por três instituições importantes, assinado por expoentes da comunidade americana de política exterior. Cf. DAALDER, Ivo; FLOURNOY, Michele; HERBST, John; LODAL, Jan; PIFER, Steven; STAVRIDIS, James; TALBOTT, Strobe; WALD, Charles. Preserving Ukraine’s Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must Do. Atlantic Council, Brookings Institution, The Chicago Council on Global Affairs, Feb. 2015.
[71] Cf. CLEM, Ralph; FINCH, Ray. Crowded Skies and Turbulent Seas: Assessing the full scope of NATO-Russian military incidents, War on the Rocks, 19/8/2021. SONNE, Paul; HUDSON, John. Amid tensions with Russia, White House scrutinizes military exercises in Europe, The Washington Post, 19/11/2021.
[72] Cf. WELT, Cory, Op. cit., p. 19.
[73] Cf. PETRO, Nicolai N. The Tragedy of Ukraine. What Classical Tragedy Can Teach about Conflict Resolution. Berlin/Boston, Walter Gruyter, 2023, p. 228.
[74] Id. Ibid., p. 226.
[75] Id. Ibid., p. 230.
[76] ISCHENKO, Volodymyr. “Towards the Abyss”, New Left Review, 133-134, 2022, pp. 17-39 (p. 37).
[77] Treaty between The United States of America and the Russian Federation on security guarantees, Ministry of Foreign Relations of the Russian Federation, 12/12/2021.
[78] Agreement on measures to ensure the security of The Russian Federation and member States of the North Atlantic Treaty Organization. Ministry of Foreign Relations of the Russian Federation, 12/12/2021.
[79] Cf. PARKER, Ashley; HARRIS, Shane; BIRNBAUM; Judson, John. “13 days: Inside Biden’s last-ditch attempts to stop Putin in Ukraine”, The Washington Post, 25/2/2021; e FARKAS, Evelyn N. “The West Must Prepare for War Against Russia Over Ukraine”, Defense One, 11/1/2022.
[80] WADE, Robert H. “Why the US and Nato have long wanted Russia to attack Ukraine”, EUROPP – European Policy and Politics, LSE, 30/3/2022. <https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/03/30/why-the-us-and-nato-have-long-wanted-russia-to-attack-ukraine/>.
[81] MACKINNON, Amy. “Defining the Biden Doctrine”, Foreign Policy, 18/1/2022.
[82] BANCO, Erin; GRAFF, Garret M; SELIGMAN, Lara; TOOSI, Nahal; WARD, Alexander. “’Something Was Badly Wrong’: When Washington Realized Russia Was Actually Invading Ukraine”, Politico Magazine, 24/2/2023.
[83] PARKER, Ashley, et alli, Op. cit.
[84] MACKINNON, Amy, Op. cit.
[85] Ahmed, Salman et alli. Making U.S. Foreign Policy Work Better for the Middle Class, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2020.
[86] THE WHITE HOUSE, National Security Strategy, October 2022, p. 8.
[87] Cf. KROENIG, Matthew. “Washington Must Prepare for War with Both Russia and China”, Foreign Policy, 18 fev. 2022; KAGAN, Frederick W. “Putin has changed the world — and the US must adapt or lose”, The Hill, 22/2/2022.
[88] BRANDS, Hal. “The Overstretched Superpower”, Foreign Affairs, 18/1/2022; id. “Opposing China Means Defeating Russia”, Foreign Policy, 5/4/2022.
[89] Cf. KAGAN, Frederick W. “The Case Against Negotiations with Russia”, Critical Threats, November 18, 2022; ROSE, Gideon. “Ukraine’s Winnable War. Why the West Should Help Kyiv Retake All Its Territory”, Foreign Affairs, 13/6/2023.
[90] Tendo integrado o grupo de trabalho criado pelo governo Clinton para estudar a questão, Charles Kupchan externou publicamente sua posição contrária à expansão da OTAN em dois artigos publicados na grande imprensa. Cf. Kupchan, C. “Extending NATO Eastward Would Be a Grave Error”, International Herald Tribune, 30/11/1994; id. KUPCHAN, Charles. “Expand NATO – And Split Europe”, The New York Times, 27/11/1994. Anos mais tarde, a posição oposta já convertida em política de Estado, ele defendeu a integração na OTAN de todas as antigas repúblicas soviéticas, inclusive da Rússia. Cf. KUPCHAN, Charles. “The Origins and Future of NATO Enlargement”, In: RACHHAUS, Robert W. Explaining NATO Enlargement. London, Frank Cass Publishers, 2001, pp. 127-148.
[91] ASHFORD, Emma. “The Ukraine War Will End with Negotiations”, Foreign Affairs, 31/10/ 2022; CHARAP, Samuel; PRIEBE, Miranda. “Don’t Rule Out Diplomacy in Ukraine. Biden’s Current Strategy Risks Escalation and Forever War”, Foreign Affairs, 28/10/2022; CHARAP, Samuel; PRIEBE, Miranda. “Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict”, Rand Corporation, 01/2023; Kupchan, Charles, “It’s Time to Bring Russia and Ukraine to the Negotiating Table”, The New York Times, 2/11/2022.
[92] MENON, Rajan. “How to End the War in Ukraine: On stopping the fighting and building the peace”, Boston Review, 26/4/2023; CHARAP, Samuel. “An Unwinnable War. Washington Needs an Endgame in Ukraine”, oreign Affairs, 5/6/2023.
[93] Haass, Richard; Kupchan, Charles. “The West Needs a New Strategy in Ukraine. A Plan for Getting from the Battlefield to the Negotiating Table”, Foreign Affairs, 13/4/2023. Membros prestigiosos da comunidade de política exterior americana, os autores do artigo extrapolaram o papel de formadores de opinião ao entabularem conversações privadas com interlocutores russos, entre os quais o ministro Lavrov, iniciativa que teve grande repercussão quando veio a público. Cf. LEDERMAN, Josh. “Former U.S. officials have held secret Ukraine talks with prominent Russians”, NBS NEWS, 6/7/2023.
[94] HEINRICHS, Rebeccah; KROENIG, Matthew. “On Foreign Policy, the New Populists are Old Declinists. The U.S. can — and must — confront Russia and China simultaneously”, National Review, 2/7/2023.
[95] COLBY, Elbridge A. The Strategy of Denial. American defense in an age of great power conflict, New Haven & London, Yale University Press, 2021.
[96] COLBY, Elbridge A.; MITRE, Jin. “Why the Pentagon Should Focus on Taiwan”, War on the Rocks, 7/10/2020; SAYERS, Freddie. “Elbridge Colby: China is more dangerous than Russia”, UnHerd, 1º/4/2023.
[97] HEILBRUNN, Jacob. “Elbridge Colby Wants to Finish What Donald Trump Started”, Politico, 11/4/2023.
[98] COBLY, Elbridge A. Zeitenwende – German Defence Policy in an Era of Great Power Conflict Panel: Keynote Remarks. Marathon Initiative, Berlin, 21/6/2022; DEBSKY, Slavmir; COLBY, Elbridge A. “Towards a Natural Equilibrium in Transatlantic Relations.” (Interview). PISM (The Polish Institute of International Affairs), 4 (91) 2022/1 (92) 2023, pp. 17-27.
[99] ASHFORD, Emma; SHIFRINSON, Joshua R. Itzkowitz; WERTHEIM, Stephen; MAZARR, Michael J. “Does America Still Need Europe? Debating an ‘Asia First’ Approach”, Foreign Affairs, 22/5/2023; MENON, Rajan. “Europe Keeps Acting Like It Can’t Defend Itself Against Russia”, The New York Times, 14/7/2023.
[100] KHURSHUDYAN, Isabelle. “To defeat Russia, Ukraine’s top commander pushes to fight on his terms”, The New York Times, 14/7/2023.
*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: tatianat19@hotmail.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.
Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.
Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.
Somos um observatório de pesquisa sobre os EUA, com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.





















